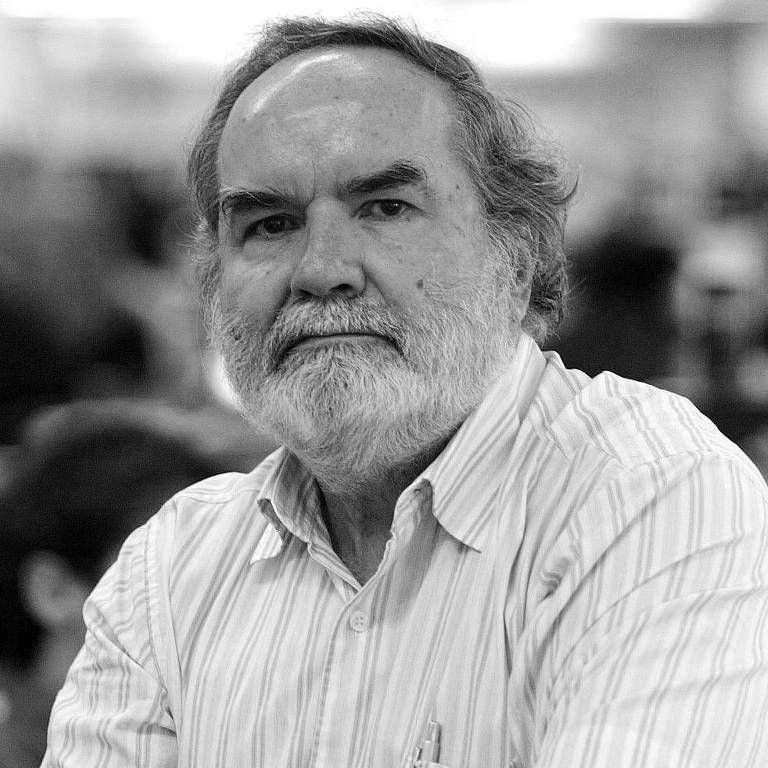O Judiciário é machista
O Blog adere ao movimento #AgoraÉQueSãoElas e agradece à juíza e escritora Andréa Pachá por ter aceito nosso convite e dividir com os leitores as suas inquietações sobre o Poder Judiciário e os direitos da mulher.
Andréa é titular da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
***
A afirmação de que não há machismo na Justiça vem da mesma ideia de que uma mentira repetida muitas vezes vira verdade.
Afinal, como seria possível imaginar como machista um Poder cujo acesso se faz pelo democrático concurso público, onde não há desigualdade salarial e onde homens e mulheres estão investidos das mesmas funções?
Segundo os dados do CNJ, hoje as mulheres representam 36,9% do total dos integrantes da magistratura. Ainda assim, o STF só contou com 3 mulheres na sua composição.
Dos 98 ministros que integraram e integram o STJ desde a sua criação, apenas 8 foram e são mulheres, embora o mantra da igualdade continue sendo reproduzido.
Das três Associações nacionais – AMB, Anamatra e Ajufe – apenas a trabalhista foi representada por 3 mulheres em distintos mandatos.
Eu mesma, como Conselheira do CNJ de 2007 a 2009, fui a única mulher em um colegiado de 15 integrantes durante um ano.
Ainda não foi realizada uma pesquisa referente à participação das mulheres nos cargos da administração. Também não há números quanto às promoções e remoções por merecimento, mas não devemos ser surpreendidos, certamente.
O machismo, quando falamos de um espaço de poder, é mais sutil e só é percebido por aqueles que têm vontade de enxergar. Daí porque a negação insistente não só de homens, mas também de mulheres, de que exista desigualdade na profissão.
Uma juíza firme e exigente ser adjetivada como mal-amada não é vista como vítima de machismo.
As piadas sexistas são aceitas e desqualificadas como ofensas porque, afinal, brincadeiras não são manifestação de machismo.
Não são essas, no entanto, as questões com as quais gostaria de ocupar o espaço privilegiado e cedido pelo Frederico Vasconcelos para engrossar o movimento #AgoraÉQueSãoElas, afinal, mesmo diante do machismo existente na Justiça, temos voz, espaço e autonomia para, politicamente afirmar a igualdade. Somos mulheres investidas de poder.
O que parece fundamental é que sejam expostas as entranhas da chaga que contamina a dignidade e silencia as muitas mulheres que chegam ao Judiciário e que não encontram as portas abertas para que a igualdade não seja apenas um texto formal e constitucional dos nossos direitos.
Pensar as mulheres na Justiça é pensar nas mães dos presos, que são humilhadas com revistas íntimas e tratadas como bandidas, sem direito à dignidade para estar perto dos filhos.
Pensar no machismo na Justiça, é lembrar dos estupradores absolvidos porque violentaram meninas, com menos de 14 anos, que foram consideradas prostitutas em muitas decisões ao longo dos anos.
Refletir sobre a condição das mulheres, é afirmar a necessidade de política carcerária que impeça presas de parirem algemadas e amamentarem seus filhos nas celas coletivas.
Romper com o ciclo perverso do machismo é acreditar nos relatos de violência verbal e moral que chegam às delegacias e às varas especializadas na proteção das vítimas da violência, sem tratar as mulheres como provocadoras e culpadas pelas agressões sofridas.
Reconhecer o acesso à justiça para as mães que perdem os filhos violentamente e precisam da garantia para acompanhar o processo legal, com todas as provas a que todos deveriam ter direito também é uma necessidade urgente.
Não há justiça efetiva sem que tantas vozes sejam ouvidas e sem que essas mulheres se livrem da condição de vítimas do machismo e da invisibilidade.
Concluo com uma história de ficção que integra um livro que publiquei em 2012, “ A vida não é justa”, pela editora Agir.
É uma história banal, das muitas que lamentavelmente nos deparamos no dia-a-dia, mas que revela a nossa falta de sensibilidade para lidar com o câncer do preconceito que corrói a liberdade e a democracia.
Que esse momento de reflexão nos leve a novos tempos de respeito e igualdade!
DIREITO AO SONHO
– A senhora pode, por favor, perguntar se ela tem certeza mesmo do que tá fazendo?
– Seu Honorato, nem preciso perguntar. Se vocês estão aqui nesse momento é porque a sua mulher pediu o divórcio. Ela não quer mais continuar casada.
Séria, cabisbaixa, silenciosa, Maria José assistia apática à resistência inexplicável do marido. Estavam juntos há quase 50 anos. Pareciam dois estranhos. Era visível o abismo instalado entre o casal. Foi preciso uma grande dose de coragem para que procurasse a Defensoria Pública. Nunca acreditou que tivesse força. Foi criada em outra época. Mulher separada era mal vista e nem em sonho podia contar com o apoio dos seus familiares. Casamento era para sempre.
“Comeu a carne? Agora rói o osso!”, esse era o conselho da mãe todas as vezes que ela ensaiava alguma queixa. Aprendeu, então, a sofrer sozinha e resignada. Lavou, passou, cozinhou, fez salgados para fora, criou as três filhas, viu a cabeça ficar branca e a pele encarquilhar. Não lembrava de um riso ou uma alegria, nem mesmo o nascimento dos netos. Era coisa comum, criança é tudo igual.
A paciência com que eu ouvia aquelas histórias era proporcional ao tempo e ao respeito que devia ter para com um casal, na iminência de completar Bodas de Ouro.
Aparentavam mais idade e percebia-se que a vida não fora pródiga com nenhum dos dois.
Ela casou aos 15 anos e ele aos 20 e não era o caso de gostar ou não gostar um do outro. O pai dela escolheu e pronto. Mudaram para outro Estado onde Maria José não conhecia ninguém. A vida se resumia a acordar e dormir, para viabilizar o pão na mesa e o tijolo para a construção de uma casinha no fundo da casa do sogro.
– Alguma lembrança boa?
– Não tenho nenhuma, não senhora.
– Já sabe o que fazer no futuro?
– Também não sei não.
Cada um recebia um salário mínimo por mês da aposentadoria e a renda era complementada com faxinas e docinhos para festas.
Todas as filhas moravam longe e o que sobrou da vida toda foi um aparelho velho de televisão, doação de uma ex-patroa, que permitia que a noite encurtasse ao som das vinhetas das telenovelas.
Era difícil concretizar a separação do casal porque o teto era único e a perspectiva de viabilizar nova moradia, nenhuma. Vender a construção e dividir a renda por dois era a pior escolha.
Percebi que não era o caso de manter o casamento, pois nenhum gesto, olhar ou palavra apontava para esta possibilidade, mas, ainda assim, perguntei:
– Parece que não tem mesmo jeito de vocês continuarem casados, mas já pensaram na possibilidade de, como amigos, depois de quase meio século, dividirem a mesma casa?
– Claro que dá, doutora! – apressou-se Honorato em responder.
– De jeito nenhum! – replicou ela, sem alterar a voz e olhando para a mesa.
– Mas por que Maria José? – retrucou ele – deixa de ser boba!
– A senhora acha que eu posso me humilhar mais? Juíza, eu achei uma cartela daquele remédio azul no bolso dele. E tinha um usado.
– Mas minha nossa senhora! Essa mulher é maluca!? Claro que foi usado. Eu usei com ela mesma!
– É verdade, dona Maria? – perguntei incrédula, segurando a vontade de dar uma gargalhada.
– É verdade, sim! E a senhora acha normal essa sem-vergonhice na idade da gente?
Se a nossa vida pudesse ser parâmetro para a vida dos outros, minha resposta teria sido autoritária e imperativa. Maria José tinha o que toda mulher sonhava: um homem que a desejava depois de quase 50 anos. Mas não era tão óbvio assim o desenlace daquele caso concreto.
Ela jamais sentiu prazer ou afeto pelo marido e sua história foi de submissão silenciosa, sexo consentido por obrigação e ressentimento. Nunca expressou desejos ou fantasias. Nunca sonhou ou idealizou uma relação. Nunca desejou aquele homem. Jamais, nesses anos todos, ele teve a delicadeza de perceber que a banalidade do sexo era incompatível com um projeto de vida em comum, que demandava cuidado, carinho, atenção.
Submeteu-se às escolhas que foram feitas em seu nome e jamais assumiu o protagonismo da sua vida.
A falta de expressão das suas emoções, o distanciamento das filhas e netos eram os sintomas de que, depois de acordar, dormir e trabalhar durante tantos anos, nunca se enxergou como integrante da humanidade, com possibilidades de pensar a vida e transformá-la.
Marionete de diversos ventríloquos que assumiram seu comando ao longo da existência, sem direito a qualquer improviso, pela primeira vez, Maria José falava por si e expressava seu firme desejo de não mais permanecer ao lado daquele homem.
Com as filhas criadas, a idade avançando, pensou que finalmente teria uma pausa nas abordagens do marido e, sem coragem para negar o sexo, escolheu a separação.
Também a vida de Honorato não foi um festival de escolhas. Para quem precisa se ocupar da sobrevivência sobra pouco tempo para a transcendência, para os sonhos e delírios.
Pensar o afeto, discutir a relação, fantasiar desejos, materializar manifestações de carinho, amar, enfim, eram concessões que a vida fazia para alguns. Aqueles dois, no processo arbitrário e nada democrático que costuma determinar essas coisas para uma grande maioria, não foram selecionados para definir seus próprios caminhos.
Cumpriram seus papeis de sobreviventes e a única escolha de Maria José, aos quase 70 anos, devia ser respeitada.
Uma parede divisória no meio do pequeno imóvel e a construção de entradas separadas. Essa foi a solução encontrada e aceita por ambos. Saíram da audiência divorciados.
Na sala vazia, depois da sentença, senti uma tristeza profunda traduzida pelo cotidiano daquele dois. O acesso à justiça era formal e injustamente, continuariam a viver, como sempre viveram, sem acesso à esperança, ao sonho e ao amor.
Lembrei de um texto de um poeta que dizia que o homem é o único animal que sonha. É verdade. Mas só para alguns…
—————————
Obs. Texto com correção às 11h09