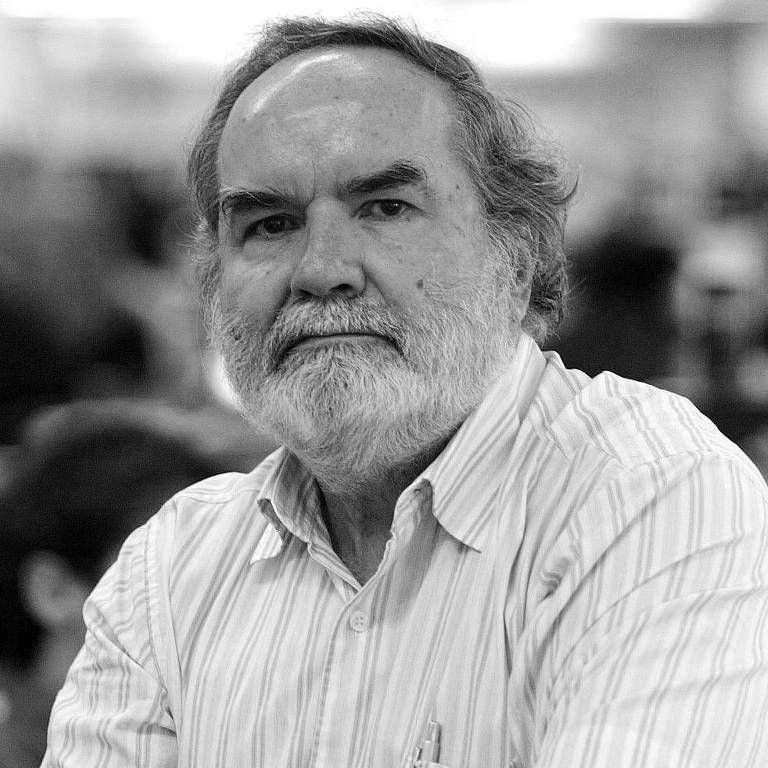Pesquisas do CNJ não medem a impunidade

“Como explicar o fato de o Judiciário registrar índices de produtividade elevados e apenas um terço da população apontar a Justiça entre as instituições em que mais confia?”
A questão foi levantada pelo editor deste Blog em palestra proferida durante a “Reunião Preparatória do XI Encontro Nacional do Judiciário”, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça nesta segunda-feira (4), em Brasília.
Segundo o relatório “Justiça em Números 2017“, apresentado no evento, “a alta taxa de produtividade da justiça brasileira fica evidenciada (…) a partir do índice de atendimento à demanda, que foi de 100,3% em 2016 – ou seja, o Judiciário concluiu quantidade de processos ligeiramente superior à quantidade de casos novos ingressados”.
A ministra Cármen Lúcia abriu o painel “O Judiciário em Pauta“, do qual participaram os jornalistas Frederico Vasconcelos, Eliane Cantanhêde e Miriam Leitão. O moderador foi o juiz Júlio Ferreira de Andrade, secretário-geral do CNJ.
Na visão deste editor, as pesquisas são essenciais para avaliar o cumprimento de metas e apontar a melhoria nos procedimentos de gestão dos tribunais, mas são insuficientes para melhorar a imagem do Judiciário.
“Uma vez publicados os relatórios, os tribunais cuidam, cada um, de divulgar como foram eficientes no ano anterior. Mas não dissecam um dos efeitos mais nefastos do congestionamento e da morosidade: a impunidade.”
A exposição incluiu exemplos emblemáticos de investigações no Judiciário, que têm em comum a morosidade, a impunidade e o esquecimento.
O relatório “Justiça em Números” foi elaborado pela equipe do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, dirigido pela professora Maria Tereza Sadek.
*
Eis a íntegra da palestra:
 “O sistema judicial brasileiro pode ser criticado por ser dispendioso, ineficiente, lento e pouco eficaz. Mesmo assim, são surpreendentemente altos os níveis de produtividade de alguns tribunais.”
“O sistema judicial brasileiro pode ser criticado por ser dispendioso, ineficiente, lento e pouco eficaz. Mesmo assim, são surpreendentemente altos os níveis de produtividade de alguns tribunais.”
Esse diagnóstico foi apresentado dez anos atrás, numa pesquisa do Banco Mundial.
Em 2007, fui convidado para debater os resultados desse estudo em seminário no Supremo Tribunal Federal.
Dez anos depois, o “Justiça em Números” confirma a alta taxa de produtividade da justiça brasileira.
No ano passado, o Judiciário concluiu quantidade de processos ligeiramente superior aos casos novos ingressados.
Minhas primeiras dúvidas:
– Esses indicadores positivos são capazes de reduzir a descrença do cidadão no Judiciário?
– Como explicar o fato de o Judiciário registrar índices de produtividade elevados e apenas um terço da população apontar a Justiça entre as instituições em que mais confia?
Essas pesquisas são essenciais para avaliar o cumprimento de metas e apontar a melhoria nos procedimentos de gestão dos tribunais.
Mas são insuficientes, a meu ver, para melhorar a imagem do Judiciário.
Uma vez publicados os relatórios, os tribunais cuidam, cada um, de divulgar como foram eficientes no ano anterior.
Mas não dissecam um dos efeitos mais nefastos do congestionamento e da morosidade: a impunidade.
Um ano atrás, ao ser empossada presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz expressou um sentimento popular:
“Ninguém mais aguenta tanta desfaçatez, tanto desmando, tanta impunidade”.
O Judiciário não é o único responsável pela impunidade. Sua imagem é muito afetada por leis e decisões dos outros Poderes.
No estudo do Banco Mundial, há dez anos, os pesquisadores ficaram surpresos com o elevado grau de “achismo”, o subjetivismo nas pesquisas sobre o desempenho dos tribunais.
Recentemente, ao analisar as “10 Medidas Contra a Corrupção”, apoiadas pela equipe da Lava Jato, o professor Ivar Hartmann, da FGV Direito Rio, alertou para o risco de “propostas legislativas sem teste da realidade”.
“Diferentemente de opiniões e achismos, os dados são neutros”, comentou.
Ele questionou a alegação de que a existência de “manobras recursais” dos réus poderia ser comprovada por “simples consulta aos sítios eletrônicos
dos tribunais de todo o Brasil”.
Segundo ele, “os dados mostram que os embargos de declaração e embargos infringentes não têm volume necessário para reverter a impunidade no país. Mas podem estar beneficiando um determinado perfil de réu”.
“Essa hipótese merece ser testada por novo estudo”, recomenda.
Hartmann pregou a necessidade de que “as evidências científicas sejam mais conhecidas e disseminadas”.
A ministra Cármen Lúcia vai na mesma direção. Diz que o “Justiça em Números 2017” responde à “exigência de conhecimento para que não se viva de crença milagreira”.
Como não acredito muito em milagres, coloquei a palavra “impunidade” na janela de busca nos dois novos relatórios. A resposta foi “zero”.
Minha dúvida persiste.
É possível dizer que a impunidade hoje é maior do que dez anos atrás? Diminuiu?
Caberia apurar essa questão em futuros relatórios?
Não sou pesquisador, não sou especialista em estatística.
Como gentilmente me foi dada a liberdade de escolher o tema da palestra, minha contribuição será trazer alguns fatos e impressões colhidos a partir de um posto de observação privilegiado.
Dez anos atrás, criei o blog “Interesse Público”, hospedado na Folha Online, para estimular o debate entre juízes, membros do Ministério Público e advogados.
Alguns fatos e comentários que farei são fruto de reportagens publicadas na Folha de S.Paulo e de opiniões respeitáveis de leitores do blog.
Como todos sabemos, a cada dois anos mudam as administrações dos tribunais.
Costumo dizer que o período é curto para introduzir avanços efetivos e longo para desfazer programas da gestão anterior.
Eis alguns exemplos:
1. Na gestão do ministro Gilmar Mendes no CNJ, foi criado um Conselho Consultivo, reunindo cientistas sociais, especialistas de órgãos públicos e técnicos em planejamento para auxiliar o CNJ nas pesquisas de aprimoramento do Poder Judiciário.
O conselho –do qual participava a professora Tereza Sadek– foi esvaziado pelo sucessor de Mendes, ministro Cezar Peluso.
2. Também na gestão de Gilmar Mendes foram incentivados os mutirões carcerários, que revelaram a inaceitável situação dos presídios.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reconheceu que o Ministério Público deveria ter assumido esse protagonismo.
O modelo foi mantido na gestão do ministro Joaquim Barbosa.
Na gestão seguinte, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o CNJ havia “se desviado do objetivo-fim, ou seja, “um órgão de planejamento central”.
Sua primeira orientação foi conter os gastos com viagens. Os mutirões foram desestimulados.
A prioridade de Lewandowski foi a audiência de custódia, uma forma de atacar o problema da população prisional, digamos assim, na entrada, reduzindo o uso abusivo da prisão preventiva.
Infelizmente, a criminalidade aumentou, a situação dramática dos presídios se agravou, requerendo, em casos isolados, a participação de novos atores, as Forças Armadas.
Cumprindo prioridade que estabeleceu, a presidente Cármen Lúcia faz uma espécie de peregrinação para fiscalizar a situação dos presídios.
Há muitos anos Cármen Lúcia já fazia, longe da imprensa, visitas a presídios nos finais de semana.
3. Em sua gestão no CNJ, Lewandowski esvaziou o órgão de controle do Judiciário.
Adotou um “imperialismo presidencialista”, como definiu o juiz Rubens Curado, ex-conselheiro.
Em várias ocasiões não cumpriu o regimento interno, não deu prioridade ao julgamento de liminares, reduziu a duração das sessões e não deu maior atenção aos prazos para retomada dos julgamentos de processos interrompidos por pedidos de vista.
A ministra Nancy Andrighi deixou a Corregedoria do CNJ sem que o presidente chamasse a julgamento cerca de 40 processos prontos, com relatório e voto.
Um desses procedimentos era a reclamação disciplinar pedindo para apurar a atuação do desembargador aposentado Armando Toledo, do TJ-SP.
Ele foi acusado de manter em seu gabinete, por mais de três anos, uma ação penal contra o então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Barros Munhoz. Com a demora, o parlamentar foi beneficiado pela prescrição.
O pedido ficou sem julgamento durante três anos no CNJ.
Foi arquivado em junho último pelo atual corregedor, que divergiu da antecessora.
Nancy Andrighi era favorável à instauração do processo administrativo disciplinar.
4. Em junho último, a ministra Cármen Lúcia revelou que a maioria dos mandados de segurança impetrados no Superior Tribunal de Justiça contra o CNJ envolve disputas sobre a titularidade dos cartórios.
É sabido que os titulares ganham verdadeiras fortunas, e os concursos são disputadíssimos.
Nos nove meses de sua gestão, o número de casos de punições sobre essa matéria foi quase três vezes maior que o total dos casos julgados nos 26 meses da administração do antecessor.
Há informações de que um conselheiro que encerrou o mandato deixou no CNJ um cemitério de liminares, sem julgamento do processo principal.
Valeria a pena fazer um balanço desses casos não resolvidos.
5. A cada nova administração nos tribunais, há uma dança de cadeiras, com a troca de cargos de confiança e substituição de servidores.
Esse rodízio também afeta a transparência. O grau maior ou menor de acesso à informação depende do entendimento pessoal do presidente do órgão.
Eis um indicador de como o tempo é curto para o administrador. A atual gestão do Supremo e do CNJ ainda não havia completado um ano e um site de advogados, o “Migalhas”, fez a seguinte provocação, semanas atrás:
“O mandato da ministra Carmen Lúcia acabou e ninguém ainda foi avisado. Só isso explica a chefe do Judiciário, para aplacar a mídia, assinar uma portaria querendo que os tribunais mandem para o CNJ o valor dos vencimentos dos juízes”.
E concluía: “Por que, ao invés de adular a plateia, a presidente do Supremo não coloca em pauta a vergonhosa questão do auxílio-moradia?”
Um ano atrás, escrevi que “o Judiciário ganhará muito se a ministra Cármen Lúcia conseguir que os ministros do STF e os conselheiros do CNJ cumpram os regimentos internos e respeitem os prazos para proferirem seus votos e julgarem as liminares”.
Ainda temos pela frente um segundo ano de gestão e de expectativa.
Para usar uma linguagem que ficou conhecida no Supremo, há ministros que mandam “às favas” o regimento interno e não são chamados “às falas”.
Dois exemplos, ainda não enfrentados pelo STF:
– Em setembro de 2014, o ministro Luiz Fux concedeu liminar –em ação não julgada até hoje– que abriu a porteira para a concessão do “auxílio-moradia” a magistrados e membros do Ministério Público.
– Desde maio de 2012, Fux impede a tramitação de uma ação que questiona vantagens e gratificações, os chamados “penduricalhos” concedidos a magistrados do Rio de Janeiro.
Como afirma Joaquim Falcão, diretor da FGV Direito Rio e ex-conselheiro do CNJ, “pautar o processo e chamá-lo a julgamento são escolhas discricionárias de responsabilidade do presidente”.
Advogados reclamam do grande número de processos que são selecionados, colocados em pauta, no STF e no CNJ, e não são julgados.
Os casos que mencionarei a seguir, envolvendo investigações no Judiciário, são emblemáticos.
Têm em comum a morosidade, a impunidade e o esquecimento.
– Em 2007, exatamente há dez anos, o ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça, foi afastado do cargo pelo CNJ, acusado na “Operação Furacão” de participar de esquema de vendas de sentenças para beneficiar empresários de bingos.
O primeiro aspecto a observar é a dificuldade de julgar e punir colegas de toga.
O então corregedor nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, disse que foi penoso e constrangedor propor ao colegiado o afastamento de seu colega de tribunal.
Medina também era vizinho de apartamento de Dipp.
Dois anos depois de afastado, Medina presidiu mesa em simpósio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo muito aplaudido.
Outro réu da “Operação Furacão”, o juiz aposentado José Eduardo Carreira Alvim, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi preso em 2007 e responde em liberdade.
Como a tramitação do processo demorou, Carreira Alvim lançou em 2011 um livro com sua versão dos fatos. A obra foi tema de palestras do autor, inclusive para alunos do curso de Direito da PUC-SP.
Em fevereiro deste ano, ou seja, dez anos depois, o STJ determinou o envio dos autos do processo, envolvendo Medina e Carreira Alvim, à Justiça Federal do Rio de Janeiro.
– Em julho de 2014, durante o recesso do judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar determinando que os desembargadores Mário Hirs e Telma Britto retornassem ao TJ da Bahia, do qual haviam sido afastados por decisão do colegiado do CNJ.
Ex-presidentes do tribunal baiano, eles eram suspeitos –entre outras irregularidades– de pagamento de precatórios inflados. Os magistrados impetraram mandado de segurança às vésperas do recesso.
Seis meses antes, o relator, ministro Roberto Barroso, havia indeferido pedido dos magistrados para retornarem ao tribunal.
Barroso considerou que eles também eram investigados em outros processos no CNJ e poderiam dificultar a coleta de provas.
Mário e Telma foram recebidos no tribunal com festa e foguetório, além da presença solidária de autoridades baianas.
Na ocasião, o ex-corregedor Gilson Dipp considerou a recepção aos magistrados um acinte ao Poder Judiciário.
– Muito antes do mensalão e da Lava Jato, o desvio de recursos na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo figurava como o maior escândalo nacional envolvendo o Judiciário.
O caso foi emblemático diante das chicanas e recursos protelatórios do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, do ex-senador Luiz Estevão de Oliveira e dos empresários Fábio Monteiro de Barros e José Eduardo Ferraz.
Em maio de 2006, a 5ª Turma do TRF-3, por unanimidade, reformara uma controvertida sentença de absolvição, condenando Ferraz a 27 anos e oito meses de prisão. A sessão foi realizada um dia antes da prescrição dos crimes.
Na véspera desse julgamento, Ferraz desconstituiu seu advogado, impedindo-o de atuar naquele processo. Mas o advogado continuou seu patrono em outros processos.
Em junho de 2014, Ferraz foi beneficiado por um empate em julgamento na 1ª Turma do Supremo, onde alegou –oito anos depois– cerceamento de defesa.
Esse argumento foi sustentado por seu novo advogado, o ex-ministro do STF e ex-procurador geral da República Sepúlveda Pertence.
Na ocasião, o Ministério Público Federal considerou “estarrecedora” a anulação, por empate, de uma condenação que havia sido confirmada pelo STJ.
O inconformismo tinha explicação: o caso estava incluído no “Programa Justiça Plena”, do CNJ.
Esse programa foi criado na gestão da corregedora nacional Eliana Calmon, com o propósito de acabar com processos que se eternizavam.
– Em abril de 2011, 40 juízes federais, vítimas de uma fraude avaliada em R$ 32,6 milhões, entregaram à corregedoria-geral do TRF-1 um abaixo-assinado.
Pediam uma “investigação célere”, afirmando que seus nomes haviam sido utilizados “de forma irresponsável, temerária e fraudulenta”. Temiam uma pizza.
Entre 2000 e 2009, a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (Ajufer) levantou dinheiro na Fundação Habitacional do Exército usando nomes de juízes associados que desconheciam a trama.
A associação firmou 810 contratos com a fundação. Cerca de 700 foram fraudados, vários deles em nome de fantasmas.
Uma auditoria realizada por magistrados constatou que a associação rolou mensalmente, durante quase dez anos, empréstimos não quitados.
Parte do dinheiro era desviado ou depositado em contas de laranjas e doleiros.
Levantamento realizado em julho último sugere que esse mensalão da toga deve ficar impune.
Uma ação penal sigilosa se arrasta no TRF-1, em Brasília.
Isolados, esses fatos não devem ter expressão nas estatísticas.
Mas a evidência de que a Justiça não é igual para todos talvez explique por que há dez anos temos um Judiciário com alta produtividade e “ninguém mais aguenta tanta desfaçatez, tanto desmando, tanta impunidade”, como desabafou a ministra Laurita Vaz.