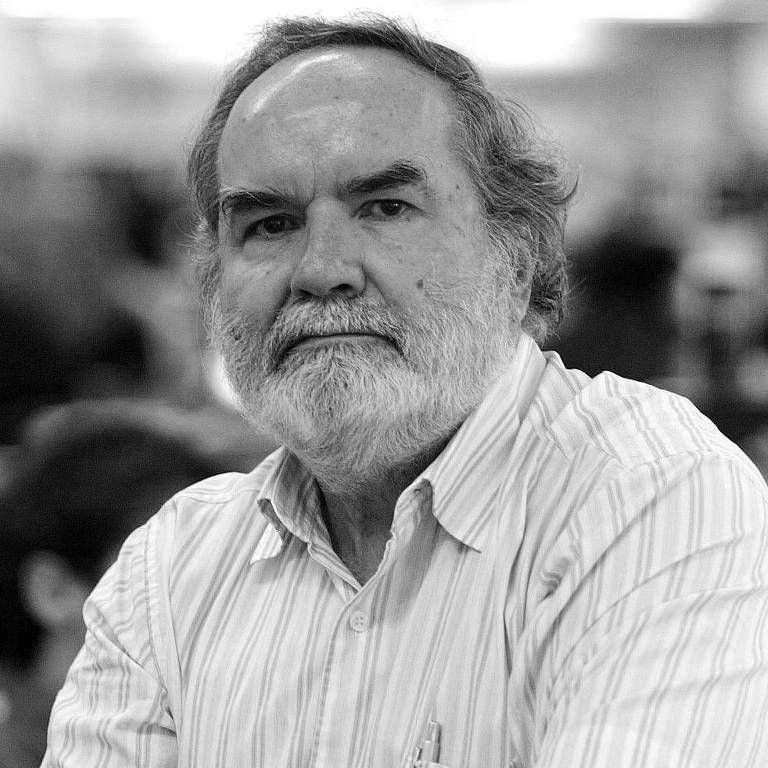Visão tradicionalista e independência judicial
Sob o título “A acusação contra a Kenarik Boujikian e as ameaças à independência judicial“, o artigo a seguir é de autoria de Marcelo Semer, Juiz de Direito em SP e membro da Associação Juízes para Democracia. O texto foi publicado no último sábado (13), na coluna “Contra Correntes“, do site “Justificando“.
***
No começo dos anos 90, sob o efeito do sequestro de Abílio Diniz, o Congresso iniciou sua legislação de emergência, com a edição da Lei dos Crimes Hediondos. Estava claro que havia se arrependido da Constituição que mal acabara de promulgar. Uma das medidas da lei era a proibição de progressão de pena aos condenados por crimes hediondos e tráfico de entorpecentes. A expressiva maioria dos juízes aplicou a lei, como entendia ser sua função. Uns poucos magistrados, aí incluídos a juíza Kenarik Boujikian, entenderam que essa proibição de progressão era inconstitucional.
Sua decisão era praticamente isolada, constantemente reformada e não raro ridicularizada. Enquanto isso, o sistema carcerário dobrava de lotação em prazos cada vez mais exíguos e criou-se o enorme problema do encarceramento feminino -em grande parte pela rigidez da pena no tráfico de entorpecentes.
Quando o STF resolveu se debruçar sobre a matéria, com longo atraso e em uma votação repleta de pedidos de vistas longevos, entendeu como a juíza Kenarik Boujikian: a proibição de progressão de pena era mesmo inconstitucional.
Já não tínhamos mais entre nós Nelson Rodrigues para lembrar que a unanimidade é burra, mas ao menos por um secular código judiciário, também derivado de pressupostos constitucionais, juízes que dissentiam de orientações dominantes jamais eram punidos administrativamente.
A proibição de punição por matéria jurisdicional sempre foi uma das consequências da independência judicial. Nem poderia ser diferente. Foi graças a decisões que romperam com jurisprudências tradicionais, que se construiu a chamada “proteção da concubina” (primeiro com pagamento por serviços, depois meação em sociedade de fato), até que a união estável se tornasse um reconhecimento legal. E o próprio casamento igualitário não foi diferente, com decisões, a princípio inovadoras -e, portanto, rompendo tradições- de conceder auxílio previdenciário para companheiros homoafetivos.
Nosso Tribunal de Justiça de São Paulo tem um respeitável histórico de jamais avaliar condutas administrativas baseadas em decisões jurisdicionais, princípio cuja transgressão poria em risco a ideia primaz da independência judicial. Se assim não fosse, como justificar que dezenas de juízes, das diferentes instâncias, fazem tábula rasa de Súmulas do próprio STF, como aquela que diz que o julgador não pode escolher um regime de início de pena mais severo do que o previsto na lei, apenas por uma avaliação abstrata da gravidade do tipo (Súmula 718)? Ou a propositada recusa de aplicação do redutor e penas substitutivas no tráfico de entorpecentes, admitidas largamente pelo Supremo.
Como o TJSP tem uma postura, no direito penal, mais tradicionalista e conservadora que os tribunais superiores, tais decisões são tidas como normais; o garantista é que em regra vira um minoritário. Muitos deles não tiveram sequer acesso à jurisdição criminal, nas hipóteses em que foi possível ao tribunal se utilizar dos discutíveis mecanismos de interdição, como a livre designação de auxiliares ou de juízes de segundo grau –que só demonstram como a luta pela preservação do princípio do juiz natural nunca foi à toa.
O estágio em que nos encontramos, todavia, pode ser um sinal delicado para essa história de relativa garantia da jurisdição.
Kenarik Boujikian vai a julgamento por determinar monocraticamente a soltura de réus cujo fundamento de prisão cautelar já se esvaíra com o término da pena fixada na sentença de primeiro grau.
Sobre as decisões monocráticas que determinaram as solturas de prisões excessivas – das quais, ao que sabe, não houve qualquer recurso ao colegiado- o próprio autor da representação tem dito em entrevistas à mídia que a maioria dos réus já estava mesmo solto (justamente porque os juízes de execução tinham cumpriram seu mister). E ainda que a juíza não teria condições de saber, no momento de seu despacho, a situação destes réus em outros processos. A Turma Julgadora, contudo, também não teria ao julgar a apelação. Pouco importa. Como os alvarás de solturas são sempre expedidos “clausulados” (ou seja, só liberam o réu se ele não estiver preso por outro processo), tampouco há qualquer prejuízo por esse motivo.
Se há prisões excessivas antes do julgamento da apelação, de toda a forma, o relator tem providências monocráticas a seu alcance. Seja a decisão dela de determinar a expedição de alvará de soltura ou a decisão de qualquer outro juiz, suponha-se o revisor, de não o expedir. Não é certo dizer que apenas o ato comissivo é uma decisão; não sendo viável que o relator desconheça eventual prisão superior a pena, não expedir alvará, sem consultar a Turma Julgadora, também é uma espécie de decisão monocrática.
E embora o acerto ou o erro de decisões jurisdicionais não estejam, por tudo o que já se falou antes, sob o crivo da corregedoria, o Conselho Nacional de Justiça já se manifestou expressamente sobre essas solturas (a rigor desnecessárias), em inspeção realizada no próprio Estado em 2011/2, sob a presidência do ministro Cezar Peluso, antigo desembargador do próprio TJSP:
“Durante o mutirão, foram detectados alguns casos recorrentes que causam prisões indevidas, como os que abaixo são relacionados: (…)
Extinção de pena pelo seu cumprimento sem que a apelação do Ministério Público tenha sido julgada pelo Tribunal de Justiça. (….) Nessa situação, alguns juízes resistem em expedir alvará de soltura, sob o argumento de que a pena poderá ser majorada em sede de recurso, sem perceberem, no entanto, que a prisão da pessoa resta sem amparo legal, a despeito da matéria se encontrar sumulada pelo STF (Súmula 716).
Na mesma linha de raciocínio, inúmeros benefícios de progressão de regime não são concedidos em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação, seja para o Ministério Público ou para a defesa, em flagrante desrespeito a Sumula acima citada”[1]
Bom, o CNJ também não é um órgão jurisdicional e tampouco pode punir por decisão judicial. O mais importante, todavia, é entender que a decisão em questão, criticável ou não (lembre-se, porém, que o excesso de prisão está consignada na Constituição Federal como causa objetiva de indenização do Estado) não é afeta às análises correcionais. Este é o fundamento da atividade do juiz.
E, de toda a forma, como todas as demais decisões monocráticas, são submetidas ao colegiado para julgamento, ainda que sem interposição de recurso.
Sobre Kenarik Boujikian pouco se pode falar que ultrapasse o que tantas linhas já se tem lido na imprensa ou nas redes sociais, que se escandalizaram com a notícia. Como minha proximidade política e jurisdicional nunca foi desconhecida nos escaninhos internos, a suspeição me circunda.
Mas se há algo que não se esconde por fúria, processo ou punição é a sua vinculação com a visão do juiz como garantidor de direitos. É uma marca indelével de sua carreira.
A posição que inicia este artigo é apenas um dos exemplos de sua luta cotidiana contra prisões ilegais, como a resistência a provas ilícitas, que expungia dos processos indiferente à sua relevância, a possibilidade de aplicação de penas abaixo do mínimo legal, a insurgência contra a proibição ilegal do voto do preso provisório, a usurpação de papeis policiais pela guarda municipal, a liberdade de expressão dos condenados, o desagravo com a situação das mulheres encarceradas e, sobretudo, a criação da própria execução penal provisória, pivô, enfim, dessa discussão jurídica.
Kenarik tem uma conhecida história de lutas pela liberdade. Mas o mais marcante de tudo é que a construiu legitimamente como exercício de uma judicatura radicalmente independente.
Ninguém é obrigado a defender as liberdades como ela defende. Mas nos limites de sua independência, ninguém deve ser capaz de impedi-la de o fazer.
—————————————————————–