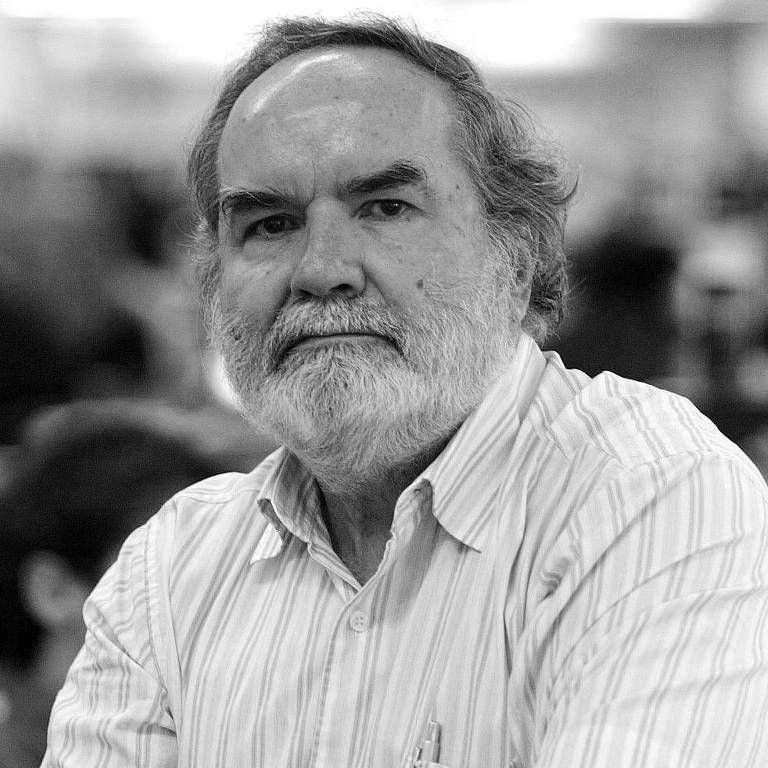Momento para rediscutir o Judiciário
Sob o título “A democratização do Judiciário: o momento para uma discussão racional“, o artigo a seguir é de autoria de André Augusto Salvador Bezerra, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia (AJD). (*)
***
O atual momento do país evidencia a insuficiência da vigência, sem efetiva aplicação, de uma Constituição como a de 1988. A previsão de amplos direitos oriundos da mobilização social que acompanhou os trabalhos da Assembleia Constituinte não tem impedido retrocessos autoritários.
O Judiciário, que poderia exercer papel protagonista na defesa da democracia e dos direitos humanos, não tem, de modo geral, conseguido impedir os retrocessos. Tal Poder nega-se, constantemente, por exemplo, ao diálogo com os movimentos sociais; por sua vez, age decisivamente no crescimento do Estado policial, lotando, via decreto de prisões, o sistema carcerário brasileiro.
Cabe, assim, investigar os fundamentos pelos quais a leitura predominante das normas jurídicas em vigor, pela atividade jurisdicional, tem favorecido o uso repressivo dos direitos, em vez de privilegiar seus fins emancipatórios pela igualdade e liberdade.
Situação paradoxal
A tarefa acima colocada não é simples. O Judiciário trabalha sob uma situação paradoxal que deve ser melhor compreendida.
De um lado, a Constituição de 1988 proporcionou autonomia do Judiciário, enquanto Poder de Estado, no mesmo plano do Executivo e do Legislativo. No âmbito desta autonomia, assegurou ampla independência funcional aos juízes, sob o correto entendimento de que independência do Judiciário significa também independência de cada juiz, inclusive perante o tribunal a que se encontra administrativamente vinculado.
Por outro lado, a vigência da Constituição não impediu que a estrutura e a composição do Judiciário brasileiro no pós-1988 não sejam distintas, na essência, da estrutura e composição do superado período ditatorial.
Estrutura não democrática
Lembra-se, nesse aspecto, que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ocupantes da cúpula da atividade jurisdicional, são até hoje nomeados sem qualquer participação da sociedade civil. No processo de escolha de cada ministro, os debates democráticos perduram substituídos pelas conversas de bastidores restritas às elites políticas.
Aliás, a participação da sociedade civil é praticamente inexistente na administração e na fiscalização dos tribunais. As ouvidorias são, em geral, compostas somente por membros do Judiciário; o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo, tem sua composição formada apenas por pessoas oriundas das carreiras jurídicas; a destinação do orçamento também se dá sem a atuação de qualquer movimento social.
Por sua vez, os juízes continuam tendo sua vida funcional regida por norma jurídica imposta pelo ditador Ernesto Geisel em 1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman). Seguindo a lógica da ditadura civil-militar da época em que entrou em vigor, a Loman trata a carreira da magistratura de modo hierarquizado, a impedir o debate democrático interno acerca dos rumos do Judiciário: por isso, em regra, os juízes de 1ª instância sequer podem votar para as cúpulas dos tribunais a que pertencem.
Composição não democrática
Se a carreira não se adaptou à Constituição de 1988, a composição da magistratura tampouco alterou-se. Basta lembrar que, segundo censo publicado pelo CNJ em 2014,apenas 1,4% dos juízes declararam-se pretos e 0,1% declararam-se indígenas.
Tais dado revelam que mais de 98% dos juízes brasileiros não são pretos ou indígenas. Em outras palavras, 98% dos juízes brasileiros possivelmente jamais sofreram uma abordagem policial em razão da cor da sua pele; 98% dos juízes brasileiros possivelmente jamais sofreram o temor de perder um pedaço coletivo de terra que consideram sagrada.
Para além da experiência de quem não pertence às raças historicamente colonizadas – e que dão sustento ao que Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder –, esses mesmos juízes são oriundos de um sistema de ensino jurídico absolutamente acrítico. Trata-se de sistema fundado no positivismo filosófico, originado no século 19, responsável por uma grave hierarquização dos saberes, que insere o conhecimento branco e ocidental no topo da pirâmide e o conhecimento, por exemplo, dos povos originários das Américas na base hierárquica.
Pressão externa
Para agravar o quadro acima descrito, o Judiciário tem sofrido forte pressão para legitimar o crescimento do Estado policial.
Lembra-se a transmissão de programas policiais por emissoras de rádio e televisão, que festejam a violência estatal contra pessoas tidas por meras suspeitas da prática de crimes (em geral, não-brancas) e rechaçam o cumprimento do dever funcional de juízes que exercem controle rígido para coibir abusos. Tais emissoras desconsideram, portanto, sua qualidade de meras concessionárias de serviço público e seu dever de transmissão de programação educativa, na forma exigida pelo artigo 221 da Constituição.
Por vezes, a pressão é mais direta. Por exemplo, recentemente um grupo de Promotores de Justiça representou, perante a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, o Juiz de Direito Roberto Corcioli Filho.
O “fundamento” da representação reside, basicamente, no fato do magistrado exercer sua independência funcional em favor do controle rigoroso sobre a atividade policial (para isso, relaxando prisões que entendia ilegais), promovendo o diálogo em conflitos sociais (designando audiência de conciliação em caso de reintegração de posse contra sem-tetos) e impedindo o abuso do poder econômico (vedando o uso de um aplicativo com base na regulação legal à atividade econômica).
O momento para uma discussão racional
O atual acirramento dos debates políticos tem colocado o Judiciário no centro da discussão. O problema é que, em razão de acusações de práticas abusivas por um ou outro juiz no decorrer da atual crise política, alguns grupos historicamente defensores dos direitos dos excluídos têm clamado pela restrição à independência funcional dos magistrados, como se esta prerrogativa fosse um óbice para o Estado de Direito.
É preciso ter cautela. Restringir a independência funcional é retirar, por completo, qualquer possibilidade de uma leitura jurisdicional emancipatória dos direitos. É também impedir, em definitivo, a possibilidade de decisões contrárias àqueles que Raymundo Faoro chamava de os donos do poder.
O foco deve ser outro: combater déficits democráticos, como os acima apontados, para permitir que a leitura dos direitos privilegie a liberdade e a igualdade. Nesse sentido, convida-se o leitor a conhecer as propostas da Associação Juízes para a Democracia para uma Loman democrática.
A tentação autoritária é grande em momentos de tensão. É preciso promover uma discussão racional para adaptar o Judiciário à democracia.