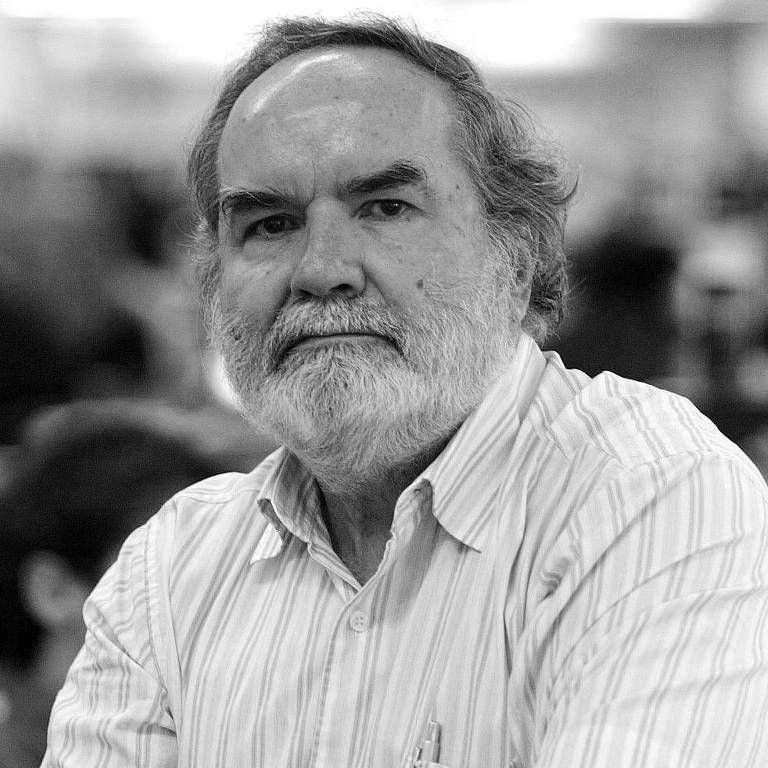Indicação para o STF cabe ao povo brasileiro
Sob o título “Indiferença suprema”, o artigo a seguir é de autoria de Alfredo Attié Jr., desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. (*)
***
Logo que Lula assumiu a Presidência do Brasil, ou seja, em termo técnico da política e do direito, a mais alta magistratura do Estado brasileiro, deparou-se com uma rara oportunidade. A de nomear três Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Eram dois fatos inéditos.
Primeiro, a eleição de um Presidente que, então, encarnava os anseios de mudança de configuração e de atuação do Governo brasileiro, em prol da população mais pobre – democracia, em seu sentido mais radical – e dos ideais de uma política mais virtuosa, que consagrasse o sempre desprezado império da lei (rule of law) e, mais desprezada ainda, a efetividade dos direitos humanos. Assim, em primeiro lugar, Tempo de Esperança.
O segundo fato, também alvissareiro, era a clareira aberta, a janela de oportunidade relativa ao Poder Judiciário. Chamo essa outra circunstância de Tempo de Crítica. E acreditava, ingenuamente, que seria também um tempo de superação. Os dois tempos combinados, pensava, conformariam uma mudança profunda nos destinos do povo brasileiro, que chamei, então, de Advento da verdadeira Democracia.
Eu já havia dito, em Seminário realizado pelo IDEC, coordenado pela professora Maria Tereza Sadek, anos antes, quando defendia o controle externo da magistratura, que esse Poder Judiciário era um poder desprezado pela teoria constitucional e pela teoria política. Mas o grande problema era o fato de que, também por esse desprezo, a postura e a prática de juízes/as (o que inclui desembargadores/as, ministros/as) faziam-se contra a, e afastadas da sociedade.
Preciso acrescentar que, na época, o termo sociedade representava apenas uma pequena parcela do povo brasileiro. Talvez um pouco maior do que a diminuta parcela que pode estar presente quando se escreveu e promulgou nossa mais recente Constituição, que foi, em seu texto original, de 1988, um recorte dos interesses e privilégios dos que tinham capacidade, voz, lobby e representação naquele momento. Também, uma suspensão de conflitos existentes, com a consagração de normas (regras e princípios) contraditórias entre si, sem deixar margem a um modo de superação, sequer a uma escolha.
Finalmente, um retrato pouco estudado e trabalhado da configuração dos poderes vigentes – civil e militar, elites tradicionais, carregando o peso de uma ditadura que não se desfizera plenamente, sobretudo nas instituições, nas práticas, hábitos e nas regras; de uma conciliação imposta, com um perdão a crimes da ditadura outorgado sem a autorização do povo e sem audição das vítimas, sem apuração efetiva.
Em suma, tínhamos, mesmo na década de 90 do século passado, uma imagem parcial, por um lado, e falsa, por outro, de nossa sociedade. E, em razão disso, o seu retrato normativo, a Constituição Cidadã, era também parcial e falso.
A consequência mais séria era a manutenção de um sistema político de representação disfuncional, que funcionava a contrapelo dos movimentos e das mudanças sociais, cuja dinâmica viria a se tornar cada vez mais multifacetada, agressiva e crítica, sobretudo na primeira década do Novo Século, a culminar com os Movimentos de Protesto de Junho de 2013 – mal compreendidos e reprimidos violentamente pelo Estado brasileiro, com o uso das estruturas remanescentes da ditadura, quase trinta anos após o anúncio oficial de seu término e do processo de abertura e redemocratização.
Pensando na ideia – para a época, hoje posso admitir, uma ilusão intelectual – do Advento da Democracia, escrevi três artigos para o importante periódico da advocacia “Migalhas”, em que tentava definir o poder judicial e o que poderia representar nesse novo tempo de esperança; mostrar o modo como, em outros Países, dava-se a escolha dos juízes de tribunais constitucionais parecidos com nosso Supremo Tribunal Federal (STF); e, finalmente, fazia uma interpretação inovadora do dispositivo constitucional que referia a indicação, sabatina e nomeação, no Brasil, de ministro/a do STF, e formulava duas propostas: uma provisória, com base na interpretação original que estabeleci, outra, definitiva, por meio de uma alteração da Constituição.
Eu retomava, em três artigos para o público geral – escritos, aliás por convite e sugestão do notável editor de “Migalhas” Miguel Matos, que havia lido esboço de minhas ideias, em e-mails que, na época eu transmitia a amigos – os termos de dois artigos mais técnicos e ainda mais propositivos que eu havia redigido e publicado nos Cadernos de Direito Constitucional e Eleitoral (dos quais era editor o então procurador da república e procurador regional eleitoral de São Paulo, ilustre professor e advogado Antonio Carlos Mendes), em 1990.
Devo dizer também, em forma de agradecimento, que essas minhas ideias e propostas foram divulgadas com extrema gentileza, elegância e espírito público pelo importante jornalista e editor Ricardo Setti.
Um pouco mais adiante, em livro coordenado pelos renomados professores Arnaldo Lemos e Glauco Barsalini, publiquei um breve estudo sobre os aspectos filosóficos, históricos e sociológicos do Poder Judiciário e da função de julgar, seguido do resumo do último dos três artigos que publicara em “Migalhas”.
Finalmente, a convite do brilhante jornalista e editor da Folha de S.Paulo Frederico Vasconcelos, publiquei um artigo, retomando um pouco tais ideias e propostas, quando da última indicação feita pelo presidente Lula de ministro do STF, por coincidência a de ex-aluno de meus cursos de Filosofia e Filosofia do Direito, e Seminários de Antropologia do Direito, na USP, Dias Tóffoli. O trabalho de Frederico Vasconcelos é de destacar, notadamente o espaço público de debates que é o Blog do Fred. Também devo mencionar artigos breves que publiquei no também importante periódico jurídico Conjur (“Consultor Jurídico”, cujo editor é o notável Marcio Chaer).
Achei que todos esses textos teriam o destino da aposentadoria, depois que uma mudança das leis permitiu a perpetuação do regime antidemocrático nas cúpulas do Poder Judiciário, estendendo a chamada expulsória de ministros para os setenta e cinco anos – mudança abrupta e casuística, feita sem explicação e sem informação e consulta à sociedade.
Entretanto, a fatalidade trouxe o assunto de novo à ordem do dia. E, para variar, a disputa pelo cargo de ministro –que se abriu em razão da morte de quem realizava papel relevante, no curso de uma de tantas jornadas contra a corrupção em nosso País –-vem sendo feita de modo pouco claro, com a oferta de nomes prontos e acabados, e de propostas casuísticas ao olhar perplexo da nação brasileira.
Fala a imprensa e dizem as redes sociais de “candidatos/as”. Mas de onde surgiram? Ninguém sabe. Mas vou arriscar um palpite. Como o processo de escolha não é transparente (portanto desobedece frontalmente os princípios republicano e democrático – leia-se, é ilegal porque anticonstitucional), esses nomes surgiram de interesses que destoam do interesse que deveria existir com exclusividade: o público, isto é, o da sociedade brasileira, o povo brasileiro.
Fala a imprensa de propostas, como a de corporações de juristas (os profissionais do direito). Que falam em indicação de nomes de tribunais superiores, o que, resumidamente, dizem, consagraria o juiz de carreira – que seria, segundo acreditam ou afirmam, o mais habilitado a ser ministro. Mas isso é uma grande falácia, isto é, um argumento que não tem qualquer base de verdade.
Ora, como se dão a indicação e nomeação dos ministros dos tribunais superiores? Do mesmo modo como se dá atualmente aquela de ministro do STF. Ou seja, o critério restringe e macula (contraria) ainda mais o processo de escolha, prorrogando a afronta aos princípios constitucionais da República e da Democracia.
E quem disse que tais ministros/as de tribunais superiores pertenceriam à carreira do Judiciário? E o fato de pertencer à carreira legitimaria alguém ao acesso a um Tribunal Constitucional? Seria essa a função de um tribunal de tal importância, consagrar apenas a carreira de juiz? Respondo de modo claro: não, os/as ministros/as dos tribunais superiores não pertencem à carreira da magistratura – pois sua escolha os/as destaca dessa carreira; e o STF não é espaço a ser ocupado apenas por quem já foi juiz/a.
Para que serve o STF? Em uma palavra, para, principalmente, servir de guardião da Constituição. É essa sua função primordial. Digo isso para o espanto da nação, que tem visto o STF fazer de tudo menos isso: servir como última instância de recursos (em concurso e competição com o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais superiores); servir como tribunal penal; servir de órgão de mediação entre os Governos (isso mesmo, Governos) federal e estaduais e municipais (contrariando o princípio democrático, de modo quase revoltante, para quem tem olhos de ver): servir como órgão de determinação de condutas e procedimentos e conteúdos do processo legislativo (uma espécie de interventor do poder legislativo); servir como órgão que decide questões sequer enfrentadas pelo poder legislativo (para o bem ou para o mal, vamos ver); servir como formulador de políticas públicas; servir como intérprete titubeante das leis, etc. Digo isso sem juízo definitivo de valor, porque isso seria assunto para outro artigo.
Ora, o órgão que guarda a Constituição, portanto, fiscaliza e indica o seu sentido, deve ser ocupado por julgadores que correspondam aos anseios do povo, no que diz respeito à importância que tem a Carta de Direitos e de organização do Estado para esse mesmo povo.
E, sobretudo, deve ser ocupado por julgadores que sejam escolhidos segundo as normas dessa mesma Constituição. De que adianta ter apenas um tribunal nominalmente constitucional, cujos ministros e ministras são indicados, sabatinados e nomeados por meio de um processo que contraria a Constituição, cujo cumprimento ou efetividade devem fiscalizar?
Na interpretação original que fiz, que está expressa nos artigos todos que citei, aqui, está claro que a regra simples de escolha de ministro não tem sido lida de modo correto. A prática é tão automática, de o presidente da república escolher quem quer e bem entende, o senado arguir e aprovar a pessoa indicada, e o presidente, novamente, nomear, que ninguém se questiona se está correta, do ponto de vista que importa, isto é, do modo como a Constituição prevê.
Vou direto ao ponto: a Constituição não diz que a indicação cabe ao presidente. Ela diz que os ministros “serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal” (parágrafo único do artigo 101 da Constituição). Ou seja, como interpretei, e expressei nos artigos citados: há três passos ou fases: indicação, aprovação e nomeação. Quem aprova, após sabatina ou arguição é o Senado. Quem nomeia é o Presidente. Mas quem indica? Há uma aparente lacuna, uma omissão da Constituição.
Mas essa ausência é apenas aparente. Pois a Constituição se abre com a explicitação do Princípio Democrático: todo poder pertence ao povo e em seu nome é exercido, por meio da representação ou por meios da democracia semidireta (consulta popular, decisão popular: referendo, plebiscito, leis de iniciativa popular). A explicitação dos meios da democracia semidireta é apenas exemplificativa na Constituição, pois a palavra semidireta sequer é mencionada. Mais do que isso, a Constituição com clareza absoluta diz que os poderes (todos os poderes) são exercidos e legitimados pela representação (voto popular) ou são exercidos diretamente pelo povo. Como o povo exerce diretamente o poder? Pela escolha (meio tradicional, digamos, da democracia representativa) e pela participação direta em funções e órgãos públicos, e no exercício de atividades que são públicas ou de interesse público, mesmo que privadas. São as Novas Formas de Democracia, objeto de meu trabalho de pesquisa, escrita, docência e prática internacionais, em foros e organizações internacionais e estrangeiras.
Portanto, a aparente omissão ou lacuna se preenche por meio da aplicação (e interpretação) do princípio democrático. E dentro desse princípio, só cabem dois caminhos: o direto ou o representativo.
Segundo o princípio da democracia representativa, quem indica são os representantes eleitos pelo povo brasileiro. Na estrutura da democracia brasileira, os representantes do povo brasileiro são os deputados (o Senado representa os Estados da federação). Portanto, a indicação cabe à Câmara dos Deputados.
Segundo o princípio da democracia direta, a indicação cabe ao povo brasileiro, mediante eleição.
Nos dois casos, os candidatos se apresentam, buscando comprovar que possuem “notável saber jurídico e reputação ilibada”, o que é apreciado, no caso da representação, pela Câmara dos Deputados, e, no caso da participação direta do povo, pelos eleitores, em eleição livre e democrática.
Os candidatos expõem seus currículos e realizações e dizem como interpretam e como vão executar a função de guardiães da Constituição. São promovidos debates abertos e realizadas campanhas públicas, com o estabelecimento de regras quanto a gastos e obtenção de recursos – no meu entender, exclusivamente públicos e iguais para todos os candidatos.
Feita a indicação, o candidato vencedor será arguido pelo Senado, aprovado ou reprovado. Se aprovado, o Presidente da República fará a nomeação. Se reprovado, nova eleição será realizada.
Critérios concretos do que significam os termos reputação ilibada e notável saber jurídico devem ser estabelecidos.
Concluo por aqui, e remeto leitores e leitoras interessadas aos artigos que referi e às sugestões bibliográficas, isto é, de livros e artigos que contêm.
A democracia é o remédio para todos os males do Brasil.