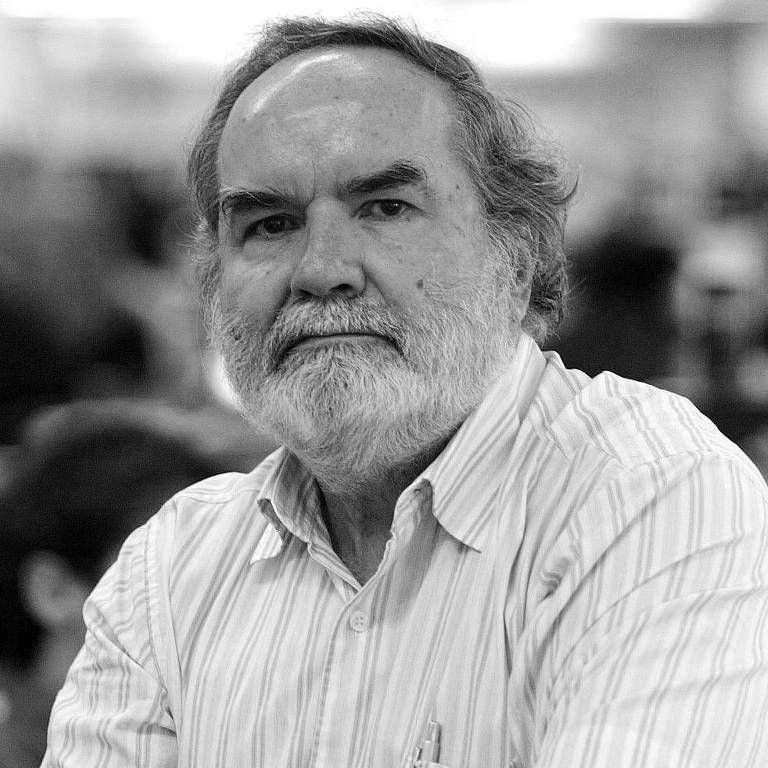O general e o controle provisório do presídio
Sob o título “Conflito de autoridade: Legalidade ou arbitrariedade?”, o artigo a seguir é de autoria de Ighor Raphael das Neves Amorim, Assistente Judiciário (TJSP), pós-graduando em Direito Processual Civil na Escola Paulista da Magistratura. (*)
***
Tem causado polêmica o desentendimento havido entre o general-de-brigada José Eduardo Leal de Oliveira e o juiz de direito Hugo Torquato, no último dia 11, durante inspeção no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul (AC), por conta de o militar não haver permitido o ingresso do magistrado naquela operação.
Se por um lado se manifestou apoio à conduta do general, por outro, muitos consideraram o ato ofensivo às prerrogativas do juiz e, via de consequência, à própria autonomia e autoridade do Poder Judiciário; já que, enquanto corregedor da unidade prisional, poderia o magistrado acompanhar qualquer operação lá desempenhada.
Acontece que a situação não se encerra na simples análise da competência (vale dizer, qual autoridade pode realizar essa ou aquela atribuição, e em quais limites), tampouco deve ter por mote a afirmação pessoal do “quem manda sobre quem” (sentimento por demais subalterno que não condiz com a seriedade exigida no exercício do cargo público).
A verdade é que do que se viu sobre o tema, pouco se falou sobre a natureza da operação em curso naquela ocasião, elemento relevante para que melhor se distinga a conduta militar –-se mero capricho pessoal ou atuação condizente à atribuição a ele imposta.
Essa ponderação é importante porque o sistema no qual inseridas as instituições por vezes cria situações até então não previstas, causadoras de aparentes conflitos que só são resolúveis sob uma visão mais aberta da questão –-como já dito acima, bem além do simples critério da competência.
Com efeito, ao juiz da vara de execuções criminais, ordinariamente, compete a função correicional dos presídios da circunscrição a que vinculado, bem como da polícia judiciária no território respectivo. Essa função é regida pela norma de organização judiciária de cada estado, mas geralmente gira em torno das tarefas de fiscalização do serviço e controle disciplinar.
Significa que, só pela atribuição fiscalizatória, é nato ao juiz corregedor – no caso, o magistrado Hugo Torquato – a inspeção pessoal, de caráter ordinário ou extraordinário, nas dependências da unidade penal, o que a princípio legitimaria pudesse ele acompanhar qualquer intervenção nas dependências sob seu controle.
Acontece que, paralelamente, a situação prisional na localidade tornou-se caótica, patenteando que a estrutura estatal constituída (governo, órgãos de segurança e até mesmo o controle do próprio juiz corregedor) falhou na sua atribuição.
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 144, caput, que a tarefa da segurança pública é dever do Estado e de atribuição das polícias. A elas, portanto, tão somente, é que cabe exercer tal papel. Em outras palavras, às Forças Armadas, em regra, não cabe o desempenho de função afeta à segurança pública.
No entanto, as Forças Armadas têm missão constitucional de garantia da lei e da ordem (artigo 142, caput, da CF/88), que se reputa em colapso quando esgotados os meios previstos no artigo 144 da Carta Magna, isto é, quando o estado, lançando mão de toda a estrutura policial de segurança pública, é incapaz de deter ameaça à incolumidade das pessoas ou do patrimônio.
Lembre-se, a propósito, que o STF já consolidou que o Estado responde objetivamente (isto é, mesmo sem culpa), em caso de morte de preso, diante do risco da atividade administrativa, o que é só mais um fator a realçar a dimensão da responsabilidade e da seriedade da questão quando se tem um presídio sob descontrole.
Pois bem. O dito esgotamento de meios próprios do estado se qualifica quando o governador do Estado ou presidente da República reconhecem formalmente a inexistência, indisponibilidade ou insuficiência dos meios próprios ao exercício da tarefa constitucional de segurança pública.
Vindo isso a ocorrer, e se o caso, o presidente da República edita decreto contendo a decisão de empregar as Forças Armadas na situação episódica em análise (Decreto nº 3.897/01); que significa, em outras palavras, dizer que às Forças Armadas é dada a incumbência de retomar a ordem nos casos em que os meios da segurança pública entram em absoluto colapso, deixando a sociedade à mercê da violência.
A grande questão é que constitui efeito desse ato a transferência do controle operacional da área à autoridade encarregada da missão, no caso, um oficial general das Forças Armadas, que passa a atuar de forma suplementar (e não complementar) às autoridades ordinárias.
Dispõe o artigo 15, § 5º, da Lei Complementar nº 97/99 que “determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, caberá à autoridade competente [presidente da República], mediante ato formal, transferir o controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações [oficial general], a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins”.
Bem se vê, assim, que a presença do Exército nas dependências do presídio não tinha a feição de auxílio policial ou mera presença de tropa requisitada, mas sim de efetivo titular do controle daquele espaço, em provisória substituição às autoridades estatais comuns.
Ou seja, na situação concreta, o controle operacional da unidade estava nas mãos do general Leal de Oliveira, controle esse que inclui a restrição de trânsito e permanência na unidade prisional, ainda que de autoridades.
Mais relevante ainda é notar que essa atuação em operação de garantia da lei e da ordem (Op GLO) deve, em qualquer circunstância, ser coordenada, planejada e sistematizada, justamente porque a situação ensejadora da intervenção, por si só, ostenta colapso das autoridades originalmente incumbidas, não podendo a instituição militar, com a missão de recobrar a ordem, adentrar na crise sem a devida projeção da forma como se dará o seu exercício; ou, ainda, estar sujeita ao súbito de quem para lá resolver se dirigir, ainda que de autoridade se trate.
Pensemos, por exemplo, no caso do governador do Estado, autoridade máxima da unidade federativa que, evidentemente, tem prerrogativa de adentrar em toda instalação do seu governo, dado o seu papel de chefe de gestão. Naquele caso, contudo, isso estaria ao crivo do oficial general da operação, eis que detentor do controle da unidade, sem que se pudesse dizer que haveria ato arbitrário do militar, visto que incumbido justamente de comandar aquela situação e devidamente autorizado a fazê-lo.
Fora isso, sempre lembrando que a intervenção das Forças Armadas pressupõe um contexto de total excepcionalidade, é certo que a atuação militar impõe normas de conduta diferenciadas, que são regras de procedimento próprias daquela intervenção circunstancial.
Aliás, justamente por se tratar de um tipo de operação que busca restaurar a lei e a ordem, é de suma importância que a sociedade deposite confiança na tropa e respeite as orientações imprescindíveis à execução da tarefa.
Daí que a conduta do general, apesar de aparentemente colidente com a competência e prerrogativas do juiz de direito Hugo Torquato, foi legítima porque decorrente de lei e inserida num contexto paralelo e inverso ao de normalidade, onde formalmente o governador do Estado reconhecera a insuficiência dos meios ordinários para controle da ordem, transferindo provisoriamente o controle da unidade às Forças Armadas, na pessoa do oficial general para tanto designado.
Se essa organização não corresponde à melhor conciliação de direitos, é caso de se discutir a modificação legislativa (no caso, do Decreto nº 3.897/01 e da Lei Complementar nº 97/99). Enquanto isso não ocorre, impera o princípio da legalidade que, acaso não seguido pelo general, aí sim, importaria arbitrariedade.
Não houve prejuízo porque a função correicional do magistrado é típica da normalidade do serviço, ali inexistente, num quadro em que a presença do membro do Poder Judiciário no local, ao revés, poderia ser prejudicial em se tratando de autoridade visada para alvo de investida criminosa numa eventual situação de confronto.
Também não houve prejuízo em se tratando de controle funcional da tropa porque qualquer desajuste ali ocorrido seria de responsabilidade do oficial comandante, vale dizer, há uma via de mão dupla a atribuir a ele o controle originalmente pertencente ao estado, mas igualmente depositando toda a responsabilidade quanto à integridade dos ali presentes e o estrito cumprimento da legalidade no exercício da missão. Ou seja, a ausência de acompanhamento por parte do juiz corregedor não transformou a unidade prisional em “terra de ninguém”, tampouco representou perigo de os militares usarem de força desmedida ou coisa do gênero, já que, para qualquer abuso, todos os integrantes da tropa estavam identificados e sob a responsabilidade do general.
Ademais, imperioso destacar que a restrição de acesso do juiz não se trata de atitude típica de regime ditatorial, nem parecida com um estado de sítio (como se o mero impedimento do juiz ultrapassar os limites da operação importasse a suspensão da sua jurisdição), como veiculado na imprensa, já que as Forças Armadas não têm autonomia para decidir, elas próprias, sobre a ocorrência da intervenção ou não.
Significa que as Forças Armadas não podem decidir, por conta própria, quando entrar em ação. Somente agem mediante autorização do Poder Executivo.
A atuação do Exército, no caso, somente ocorreu porque o governador do Estado decretou a inexistência de meios para controlar a situação e o presidente da República autorizou a intervenção – circunstancial, repita-se. Logo, se o Exército somente atua quando determinado pelo poder constituído, não há inversão da ordem democrática.
Importantíssimo ressaltar, nesse contexto, que os Poderes da União são independentes e harmônicos entre si, porém todos eles compõem uma mesma abstração da Administração Pública, que por sua vez é sujeita a princípios como o da eficiência e, sobretudo, tem por propósito a consecução do bem comum. Assim, o objetivo sempre deve ser o bem comum, e não o da satisfação do poder unicamente pela sua condição de poder.
É dizer que, numa situação pontual, a prerrogativa do membro de determinado poder comporta provisória restrição caso o seu livre exercício possa colocar em risco o êxito de missão com propósito maior (o controle de unidade prisional em crise, retomando a efetividade das forças policiais é, justamente, propósito maior, caractere do bem comum).
Em suma, como já dito anteriormente, quando se compõe um sistema é possível se deparar com situações de aparente colidência. Todas elas são solvíveis com os critérios de legalidade, cooperação e, sobretudo, coerência. No caso em análise, tomando por base o vetor da coerência/correspondência, a atividade do juiz corregedor estava deslocada frente à declaração oficial de colapso da ordem pública e determinação presidencial de atuação das Forças Armadas, devendo-se prestigiar, no caso, a autoridade do comandante titular do controle porque em curso estava uma missão de realinhamento da ordem, além da alçada do magistrado.
Registrem-se de todo válidas as manifestações das associações de classe, assim como legítimo o descontentamento do magistrado envolvido, que por sinal, dono de notável polidez, lidou com a situação de forma serena. No entanto, o desajuste mais parece decorrente do contato não habitual com situações de garantia da lei e da ordem, do que propriamente de ilegalidade ou arbitrariedade do oficial general.
E por fim, há de se repetir que os agentes e autoridades públicas têm em suas funções o objetivo de servir à sociedade de forma proba, legal, eficiente e impessoal, de modo que todas as atitudes e reações sempre devem levar em conta não a satisfação pessoal, mas sim o interesse coletivo.