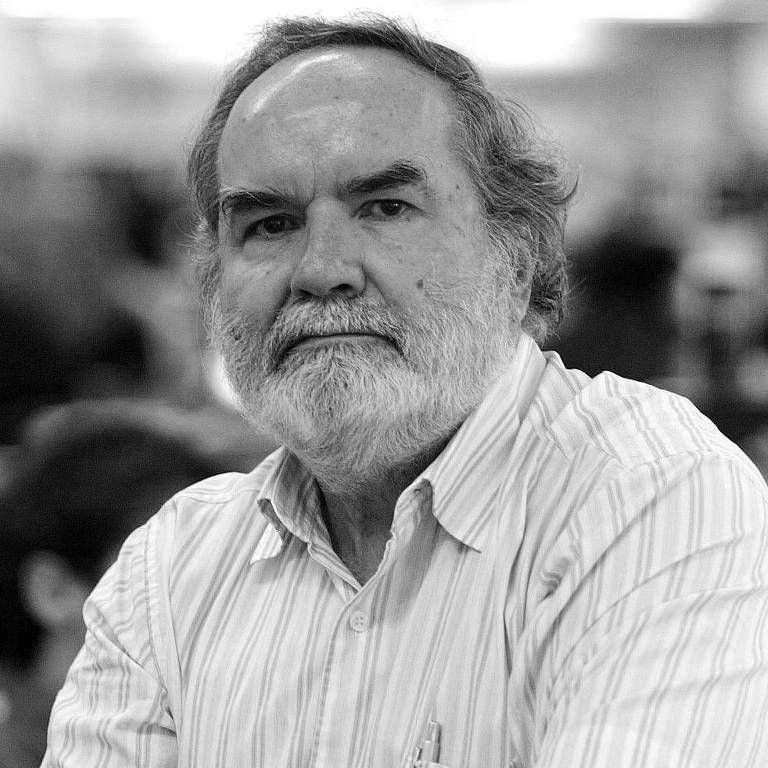CNJ deveria rever recursos arquivados, diz ex-conselheiro

Sob o título “E se Moro fosse juiz?”, o artigo a seguir é de autoria de Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz do trabalho e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (2015-2017). O texto foi publicado originalmente no site “Justificando“. (*)
***
Há pouco mais de um mês, o já conturbado cenário político brasileiro ganhou ares de maior dramaticidade. Todos passaram a acompanhar com sagacidade as sucessivas divulgações de conversas travadas entre o atual ministro da Justiça, senhor Sergio Moro, e membros do Ministério Público que atuavam em processos que estavam sob a jurisdição daquele, realizadas em um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas.
O debate subjacente – e que acabou norteando o discurso do ministro e de seus defensores – está relacionado à suposta ilicitude na obtenção dessas mensagens que, segundo essa mesma narrativa, poderiam ter sido adulteradas. Sim, poderiam ter sido, segundo as notas oficiais que vieram após cada novo trecho divulgado.
Mas é importante que se diga: em nenhum momento os indicados como interlocutores negaram o conteúdo das mensagens e nenhum trecho foi expressamente apontado como falso ou adulterado.
Em seu discurso, reprisado nas Casas do Congresso Nacional, o ministro acentuou que, acima de tudo, não havia qualquer anormalidade nas mensagens trocadas com os acusadores, especialmente aqueles que atuaram no processo que levaram à condenação e prisão do ex-presidente Lula.
Esse é o nosso ponto de partida. As conversas supostamente travadas pelo ministro e pelos procuradores estão no plano da “normalidade” das relações institucionais entre esses personagens? Por certo que juízes, advogados e membros do Ministério Público têm plena de liberdade para conversar, trocar impressões, notícias, informações, cumprimentos ou realizar quaisquer outras interações.
Podem, inclusive, tratar de temas jurídicos ou, até mesmo, de processos judiciais. Essa interlocução não deve causar estranhamento, por si só. Afinal, são profissionais que, invariavelmente, guardam entre si uma convivência cotidiana.
Muitos frequentaram os mesmos bancos escolares, ou se conhecem de atividades acadêmicas, docentes ou científicas. Há entidades que congregam profissionais do Direito de todas as áreas, como academias científicas, institutos de pesquisa, ONGs, dentre outras.
A proximidade profissional faz com que juízes, procuradores e advogados possam se relacionar no plano pessoal, em atividades comuns e conjuntas, inclusive em eventos sociais públicos ou privados.
Nada disso escapa, de fato, à normalidade. É um elemento comum entre pessoas que atuam em determinado núcleo profissional, e que se associam por razões das mais diversas.
As redes sociais, a propósito, potencializaram essas possibilidades, oferecendo a oportunidade do contato virtual – e, portanto, mais intenso e recorrente – além de assegurar um nível de aproximação que talvez não fosse possível sem a sua existência.
Qualquer um que participa de redes sociais “abertas”, como Facebook, Instagram, Twitter ou Linkedin, por exemplo, está sujeito a interpelações de pessoas com as quais não tem intimidade ou que sequer conhece. Mesmo os aplicativos de mensagens instantâneas, nos quais hospedam-se grupos com finalidades das mais variadas, oferecem um acesso inusitado a qualquer um que deles participa, autorizando o fluxo de informações e manifestações que provavelmente não seria concretizado de outra forma.
Até aqui, também não vemos qualquer anormalidade. Um juiz pode, a seu critério, participar das redes sociais que lhe são convenientes, responsabilizando-se, naturalmente, pelo conteúdo do que publica, como, de resto, deve ocorrer com qualquer pessoa.
No entanto, todos os magistrados brasileiros, desde os ministros do STF até os juízes substitutos em início de carreira, têm de observar alguns deveres, que funcionam como preceitos norteadores de sua conduta.
Dois dos mais importantes desses deveres são o da imparcialidade e o da independência funcional. Nos dizeres do Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, “O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.”
Com a mesma toada, o Código exige do magistrado que “seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais” e ainda impõe ao magistrado “pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos.”
Não é outro o motivo pelo qual a Constituição estabelece proibições a todos os magistrados, que visam assegurar a observância desses deveres, de modo a garantir à sociedade a prestação de uma jurisdição efetivamente justa.
Mas não é só.
A necessária observância da independência e da imparcialidade estão presentes no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pelas Nações Unidas (“todos têm direito em completa igualdade a um processo justo e público por um tribunal independente e imparcial, na determinação de seus direitos e obrigações e de qualquer acusação penal contra si.”)
Outrossim, da Carta de Princípios Básicos da ONU relativos à independência da Magistratura (aprovada no 7o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e Tratamento dos Réus em setembro de 1985), destacamos os seguintes preceitos:
“1. A independência da magistratura será garantida pelo Estado e consagrada na Constituição ou na legislação nacional. É dever de todas as instituições, governamentais e outras, respeitar e acatar a independência da magistratura.
- Os juízes devem decidir todos os casos que lhes sejam submetidos com imparcialidade, baseando-se nos factos e em conformidade com a lei, sem quaisquer restrições e sem quaisquer outras influências, aliciamentos, pressões, ameaças ou intromissões indevidas, sejam directas ou indirectas, de qualquer sector ou por qualquer motivo.
(…)
- Todas as pessoas têm o direito a ser julgadas por tribunais comuns, de acordo com os processos legalmente estabelecidos. Não serão criados tribunais que não apliquem as normas processuais devidamente estabelecidas em conformidade com a lei, para exercer a competência que pertença normalmente aos tribunais ordinários.
- Em virtude do princípio da independência da magistratura, os magistrados têm o direito e o dever de garantir que os procedimentos judiciais são conduzidos em conformidade com a lei e que os direitos das partes são respeitados.
(…)
- Em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os magistrados gozam, como os outros cidadãos, das liberdades de expressão, de crença, de associação e de reunião; contudo no exercício destes direitos, eles devem comportar-se sempre de forma a preservar a dignidade do seu cargo e a imparcialidade e a independência da magistratura.”
De outra parte, os Princípios de Bangalore de Independência Judicial, aprovados em 2002 pelas Nações Unidas, também reiteradamente assinalam a necessidade de observância desses mesmos deveres, como demonstrado a seguir:
“1.2 Um juiz deverá ser independente com relação à sociedade em geral e com relação às partes na disputa que terá de julgar.
1.3 Um juiz não só deverá ser isento de conexões inapropriadas e influência dos ramos executivo e legislativo do governo, mas deve também parecer livre delas, para um observador sensato.
1.6 Um juiz deve exibir e promover altos padrões de conduta judicial de ordem e reforçar a confiança do público no Judiciário, a qual é fundamental para manutenção da independência judicial.
2.0 A imparcialidade é essencial para o apropriado cumprimento dos deveres do cargo de juiz. Aplica-se não somente à decisão, mas também ao processo de tomada de decisão.
2.1 Um juiz deve executar suas obrigações sem favorecimento, parcialidade ou preconceito.
2.2 Um juiz deve se assegurar de que sua conduta, tanto na corte quanto fora dela, mantém e intensifica a confiança do público, dos profissionais legais e dos litigantes na imparcialidade do Judiciário.
2.4 Um juiz não deve intencionalmente, quando o procedimento é prévio ou poderia sê-lo, fazer qualquer comentário que possa razoavelmente ser considerado como capaz de afetar o resultado de tal procedimento ou danificar a manifesta justiça do processo. Nem deve o juiz fazer qualquer comentário em público, ou de outra maneira, que possa afetar o julgamento justo de qualquer pessoa ou assunto.
3.1 Um juiz assegurar-se-á de que sua conduta esteja acima de reprimenda do ponto de vista de um observador sensato.
3.2 O comportamento e a conduta de um juiz devem reafirmar a fé das pessoas na integridade do Judiciário. A justiça não deve meramente ser feita, mas deve ser vista como tendo sido feita.”
No plano interno, esses preceitos se repetem. Embora constem de ultrapassado dispositivo legal, moldado em plena Ditadura Militar, eles estão presentes nos artigos 35 e 36 da LOMAN, que versam sobre deveres e vedações à magistratura.
Dessa narrativa, resta inconteste que a atuação de maneira imparcial e independente é um requisito estrutural para a validação de qualquer decisão judicial, desde aquela proferida por um juiz de uma pequena comarca do interior até aquela prolatada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Não é outro o sentido dos deveres emanados do Código de Ética da Magistratura Nacional, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto de 2008, e que já foram anteriormente reproduzidos (artigos 4o a 9o.).
Quando confrontamos os diálogos até agora divulgados pelos meios de comunicação com os dispositivos retro transcritos, é inafastável a conclusão de que não há nenhuma normalidade no comportamento adotado pelo magistrado que deles fez parte.
Há um oceano de distância entre conversas travadas por um juiz com advogados e procuradores, dentro do contexto explicitado no início deste artigo, com a orientação e a coordenação de atividades que deveriam ser praticadas por aqueles que estão atuando em casos concretos sob a jurisdição do magistrado.
Dito de outro modo: um juiz pode conversar com advogados, procuradores e até com as partes do processo sobre qualquer assunto. Menos tratar de questões do processo, salvo em audiências oficiais e, preferencialmente, em ambientes públicos e devidamente registrados em agenda.
O fato é que a conduta do ministro da Justiça nem de longe se aproxima daquela que se espera de um juiz.
O magistrado que cumpre os seus compromissos de respeitar as leis e a Constituição – juramento inicial de qualquer ingressante da carreira – jamais interfere em um processo de modo a favorecer ou prejudicar deliberadamente uma das partes.
Não atua propositivamente no processo, induzindo a qualquer dos litigantes a suprir defeitos das suas intervenções nem estabelece preliminarmente qual a intenção que almeja em sua decisão. Não deve fazer isso a favor do autor nem do réu.
Não deve agir em prol de advogados nem tampouco de integrantes do Ministério Público, seja em conversas privadas, telefônicas, pessoais, mensagens de texto, de áudio ou sinais de fumaça. Quem assim age, não atua como juiz, mas sim como inquisidor.
Em obra publicada pelo Conselho da Justiça Federal, em 2008, há interessantes comentários sobre alguns dos dispositivos da Declaração de Princípios de Bangalore, e que parecem se amoldar de maneira categórica ao caso ora em exame.
Naquele documento está assinalado:
“64. O princípio da imparcialidade geralmente proíbe comunicações privadas entre os membros da corte e qualquer das partes, seus representantes legais, testemunhas ou jurados. Se a corte recebe tais comunicações privadas é importante assegurar que a outra parte seja completa e prontamente informada tudo registrado como de costume.”
No mesmo sentido, a obra aponta um exemplo de uma declaração imprópria que pode ser proferida pelo juiz na condução da causa, capaz de conduzi-lo à suspeição para atuar no processo:
“71. Uma comunicação por parte dos juízes segundo a qual eles concordam em sentenciar todos os infratores condenados por uma dada infração à pena de prisão (sem qualquer distinção entre primariedade ou reincidência) autorizaria, dependendo das circunstâncias, um advogado a arguir suspeição ou impedimento do juiz com o fundamento de que ele anunciou uma opinião fixa acerca da sentença ideal para a infração imputada ao réu.
Isso permanece verdadeiro mesmo se os juízes alegarem que a amplitude da sentença seria deixada ao discernimento do juiz, dependendo dos fatos e da lei aplicável àquela infração.
A comunicação criaria uma aparência de impropriedade por sugerir que aqueles juízes estavam sendo influenciados pelo clamor público ou pelo medo da crítica do público. Isso seria também um comentário público desautorizado sobre processos pendentes.
Da mesma sorte, o tema do comportamento do juiz diante dos atores do processo é tratado no verbete 101, ao tratar do conceito de integridade:
“101. A integridade é o atributo da correção e da virtude. Os componentes da integridade são honestidade e moralidade judicial. Um juiz deve sempre agir dignamente e de uma maneira apropriada ao ofício judicial, livre de fraude, trapaça e mentira, não apenas no cumprimento de seus deveres oficiais, sendo bom e virtuoso em comportamento e caráter. Não há graus de integridade assim definida. A integridade é absoluta. No Judiciário, a integridade é mais que uma virtude; é uma necessidade.”
Respondendo à pergunta que intitula este texto, podemos afirmar que, diante do que até o momento foi explicitado, o senhor Sergio Moro não foi juiz em causas que estavam sob sua direção, e afrontou literalmente os mais variados dispositivos normativos que regulam a atuação do magistrado. Descumpriu as leis e a Constituição que jurou respeitar.
Se as conversas tivessem vindo a lume enquanto ainda integrava os quadros da magistratura, Moro estaria sujeito à instauração de processo administrativo disciplinar, seja pela Corregedoria do TRF-4, seja pelo Conselho Nacional de Justiça.
Mas Moro não é mais juiz: embora já tivesse se afastado idealmente dessa condição, como revelam as suas conversas. Em novembro de 2018 afastou-se concretamente do cargo, ao exonerar-se para assumir o de ministro de Estado. Nem cabe comentar a impropriedade dessa conduta, já que suas decisões judiciais podem ter influenciado diretamente no resultado das eleições, o que denota total impropriedade.
No entanto, ao “deixar a toga”, o hoje ministro escapou das possibilidades efetivas de ser sancionado pelos órgãos censores do Poder Judiciário pelos atos que cometeu.
Afinal, não sendo mais um juiz, o CNJ não pode impor a ele qualquer das sanções previstas na Lei Orgânica da Magistratura.
Todavia, seria extremamente oportuno se o Conselho, na condição de órgão máximo de controle disciplinar do Poder Judiciário, se pronunciasse sobre essas condutas.
Afinal, a naturalização com a qual se tem defendido a postura do ministro pode levar à falsa impressão de que essa prática é adotada e tolerada por qualquer juiz, o que, como vimos, está muito distante da realidade.
Ainda que o CNJ não possa mais impor sanções ao ex-juiz, deveria, para defender a integridade do Poder Judiciário, se manifestar explicitamente a respeito das condutas ora denunciadas, inclusive para que a sociedade possa ter a convicção dos limites concretos de atuação de um juiz na condução dos processos.
Demais disso, não se pode descurar que as conversas até o momento reveladas indicam que o senhor ministro poderia haver, em tese, cometido diversos crimes, dos quais se destacam a advocacia administrativa, tipificado no artigo 321, do Código Penal (“patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário”) e prevaricação, qualificado no art. 319 do mesmo Código (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”).
Além disso, também não se deve olvidar que o ex-juiz esteve no epicentro de outro episódio grave, igualmente relacionado à estrita observância dos deveres da magistratura.
Trata-se da divulgação de conversas telefônicas ilegalmente obtidas e que foram por ele divulgadas, implicando na inadmissível invasão da privacidade da então presidenta da República.
A ilicitude e a impropriedade do procedimento foram reconhecidas pelo ministro Teori Zavascki, do STF, mas ainda assim o ex-juiz não foi sequer investigado por essas práticas, dado que as reclamações disciplinares que sofreu no TRF4 e no CNJ foram arquivadas.
Nesse caso, o hoje ministro teria, em tese, cometido o crime de violação de sigilo funcional, qualificado no artigo art. 325 do Código Penal (“revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”) e também aquele definido no art. 10 da Lei 9.296, de 1996 (“constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.”).
Por outro turno, as mesmas condutas evidenciadas apontam para eventual prática de ato de improbidade administrativa, sujeitando aquele que as praticou, caso caracterizadas, às sanções penais, civis e administrativas definidas no artigo 12 da Lei 8.429, de 2002.
Afinal, assim estabelece o artigo 11 da referida norma:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”
No mesmo sentido, a aceitação ao convite para integrar o Ministério da Justiça também poderia representar ato de improbidade administrativa.
O notório contexto em que se deu o referido convite, e a circunstância já citada, de as decisões do ex-juiz terem supostamente interferido no processo eleitoral – como também revelam as conversas divulgadas – o tornam passível de enquadramento no disposto no artigo 9º da mencionada Lei:
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (…) VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.”
Diante de tantas evidências, um pronunciamento do CNJ a respeito de tais práticas poderia incentivar o Ministério Público Federal a promover a correspondente investigação da prática desses crimes.
De fato, isso nem seria necessário, pois se o MPF agir com a independência que dele se espera, igualmente deverá tomar as medidas adequadas à apuração de tais condutas, o que é da mais absoluta relevância não somente para definir a responsabilidade do ministro pelos seus atos como para, eventualmente, impedi-lo de voltar a cometer tais delitos no exercício de outras funções públicas.
Caso estivéssemos em um ambiente de normalidade institucional, a esta altura o ministro já não mais estaria à frente da pasta que ocupa, e estaria respondendo perante os órgãos censórios e judiciais correspondentes.
O momento histórico, no entanto, nos tem levado a um contexto de inusitada resignação, capaz de naturalizar práticas que jamais poderiam ser admitidas em um Estado Democrático de Direito.
As juízas e juízes brasileiros que honram seu compromisso constitucional não merecem ser colocados na vala comum daqueles que usam indevidamente suas funções, ainda que argumentem fazê-lo em nome da relevância dos fins almejados.
As instituições democráticas deste país têm a responsabilidade de dizer para a sociedade brasileira que o exercício da magistratura não admite qualquer promiscuidade nos relacionamentos, ainda que fossem nobres os seus motivos.
—
(*) O autor é professor titular do Centro Universitário UDF, em Brasília. Pós-doutor em Ciências Sociais, Humanidades e Artes do Centro de Estudios Avanzados da Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Especialização em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (2015-2017). Juiz Titular do Trabalho. Professor do Curso de Pós-Graduação “lato sensu” da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Campinas).