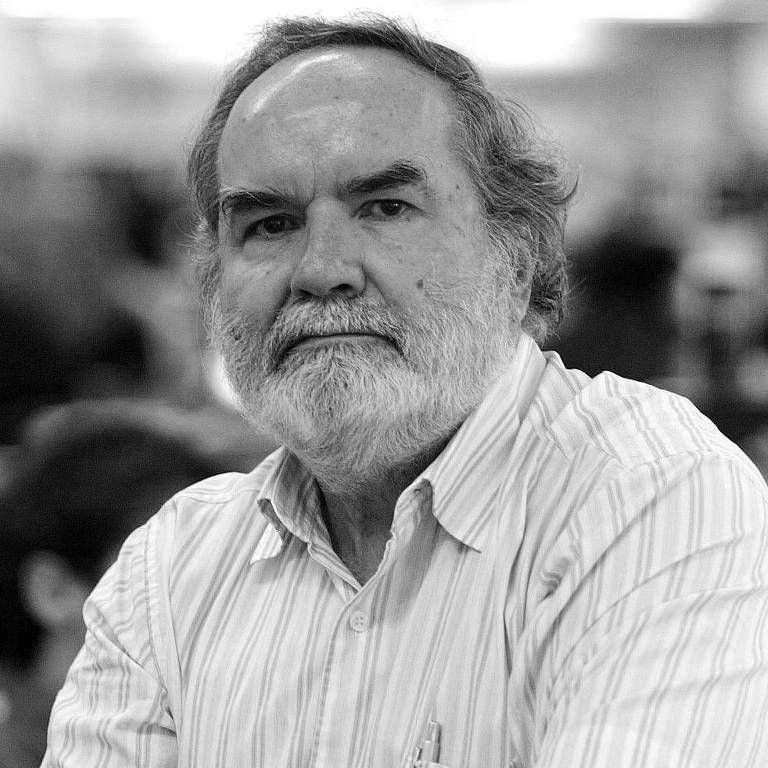Regras do CNJ sugerem o encastelamento virtual de juízes, diz magistrado

Sob o título “Sobre o encastelamento virtual de juízes“, o artigo a seguir é de autoria de Guilherme Guimarães Feliciano, juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté (SP). Trata-se de crítica à Resolução n. 305/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece parâmetros para o uso de redes sociais por magistrados. (*)
***
O ano de 2019 não deixará saudades. E, muito especialmente, não as deixará no campo do Direito do Trabalho e das liberdades públicas. Mas os humores se renovam com os anos, tal como as “verdades” de ocasião. Assim, que venha 2020!
E, por falar em liberdades públicas – e também em um ano de tensões democráticas pouco justificáveis –, o Conselho Nacional de Justiça encerra 2019 com a edição da Resolução n. 305/2019, que “estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário”.
Vamos examiná-la, ainda que brevemente, em seus aspectos mais problemáticos.
A resolução foi aprovada pelo plenário do CNJ, no último dia 17 de dezembro de 2019, e já trouxe consigo imensa polêmica.
Para que se tenha uma ideia, antes mesmo do recesso forense foram já apresentadas duas medidas judiciais, no Supremo Tribunal Federal, contra o texto regulamentar: o Mandado de Segurança n. 36.875 (impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho em 19/12/2019) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.293 (ajuizada pela AMB e pela ANAMATRA), essa última sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
Sendo bem direto, a resolução publicada padece, a meu juízo, de três grandes vícios (que não foram a tempo corrigidos, apesar das advertências feitas, inclusive por parte das associações nacionais de juízes). Ei-los.
A Resolução CNJ n. 305 considera que o juiz, em razão da toga, subordina-se a uma “capitis deminutio”: suas liberdades civis estão aprioristicamente tolhidas, para além do que dita a LOMAN (apesar de a referir no art. 1º).
Parte-se, pois, de uma “presunção” teorética – que, para mim, padece de inconstitucionalidade – para construir uma série de ilações sobre o que o juiz pode ou não fazer.
Ora, o princípio é o da liberdade (inclusive de expressão), desde que se trate de um cidadão (e o juiz não é menos cidadão que os demais cidadãos). As restrições têm de ser expressas na legislação, em via de legalidade estrita (logo, lei em sentido formal – e não resolução do CNJ).
A esse respeito, já há a Lei Orgânica da Magistratura, pela qual é vedado ao juiz, p. ex., exercer atividade político-partidária (LOMAN, art. 26, II, “c”); e, assim, o juiz não pode se valer de redes sociais para desenvolver campanha política sistemática em favor de certo candidato.
Também se veda ao juiz, p. ex., tratar sem urbanidade partes, Ministério Público, advogados e servidores; logo, não poderá, em sua rede social, agredir moralmente um advogado, em razão de determinado requerimento em sala de audiência. Para essas restrições, a nova resolução é completamente despicienda. Bastaria às corregedorias agirem, ao detectarem tais situações.
Os limites, portanto, estão dados em lei; pouco há a se “especializar”, quando se trata de redes sociais. E qualquer norma que vá além dos lindes da Loman e não conste de lei complementar (CF, art. 93), restringindo indevidamente as liberdades públicas de um cidadão em razão da toga que verga, poderá incorrer em inconstitucionalidade.
A Resolução CNJ n. 305 não subministra conceito claro do que sejam “redes sociais”, extrapolando os limites conceituais universalmente admitidos.
Originalmente, não havia qualquer definição a respeito do que fossem “redes sociais” para os fins da Resolução CNJ n. 305/2019.
Na versão final, possivelmente em função das críticas recebidas, ensaiou-se um conceito no art. 2º, par. único (supra): redes sociais seriam “todos os sítios da internet, plataformas digitais e aplicativos de computador ou dispositivo eletrônico móvel voltados à interação pública e social, que possibilitem a comunicação, a criação ou o compartilhamento de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer natureza”.
A sua excessiva abertura semântica sepultou, todavia, qualquer condição de segurança jurídica, ao menos quanto ao conceito em si.
Redes sociais “online”, por definição, rendem ensejo virtual a relacionamentos horizontais de natureza coletiva (quando não multitudinária). Têm por características, portanto, a abertura e a porosidade social.
Nesses termos, se tenho perfil no Facebook e nele admito apenas a minha esposa (o que é perfeitamente possível, dentro dos controles de privacidade), a rigor o instrumento não está sendo usado como rede social. Se acaso o que estiver ali dito for “vazado” por um terceiro que conseguir acesso circunstancial ao telefone celular, teriam incidência as restrições da futura resolução?
Parece-me claro que não. Mas a questão passa ao largo do texto da Resolução CNJ n. 305.
O mesmo se diga do WhatsApp (a respeito do qual há franco debate sobre configurar ou não uma “rede social”; comparem-se, p. ex., as opiniões publicadas em https://medium.com/publicitariossc/whatsapp-pode-ser-considerado-uma-rede-social-22a7ed09483a e em http://dicassociais.com.br/2016/02/midia-social-e-rede-social-qual-a-diferenca/).
Se for rede social, estará sob os rigores da Resolução CNJ n. 305. Se for um mero aplicativo para troca de mensagens, já não estará. “Quid iuris”?
E, supondo-se que estejamos diante de uma rede social para os efeitos da Resolução CNJ n. 305 – como parece ser a intenção da norma, na medida em que o art. 2º, par. único, refere textualmente “o compartilhamento de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer natureza” –, as minhas conversas com o grupo da família no WhatsApp (um grupo restrito e fechado, portanto) estão alcançadas pela resolução?
Se admitirmos que sim, haverá sentido em se proibir “autopromoção” ou ações com “intuito comercial” (p. ex., o folder eletrônico de um livro recém-publicado pelo juiz) pelo WhatsApp, inclusive no grupo da família, e admiti-las por e-mail ou por correspondência física?
Dir-se-ia que a hipótese estaria afastada, em vista do teor do art. 4º, §2º (que, aliás, foi também introduzido somente na derradeira redação), pelo qual “[a] divulgação de obras técnicas de autoria ou com participação do magistrado, bem como de cursos em que ele atue como professor, não se insere nas vedações previstas nos incisos IV, V e VI, desde que não caracterizada a exploração direta de atividade econômica lucrativa”.
Mas se o intuito do folder é o de vender a obra (e isto parece óbvio), de que decorrem ganhos econômicos para o juiz (= direitos patrimoniais de autor), não estaríamos diante de “exploração direta de atividade econômica lucrativa” (que, nos termos do minudente normativo, configura “a exceção da exceção”)?
Esses e outros pontos não estão absolutamente esclarecidos nos texto. Ao contrário: a amplitude do art. 2º, par. único, insinua soluções absolutamente anti-isonômicas.
A Resolução CNJ n. 305 é ampla demais nas restrições criadas (= excessiva abertura semântica).
Em boa hermenêutica, rezam os doutos que “odiosa restringenda, favorabilia amplianda” (= “restrinja-se o odioso; amplie-se o favorável”).
O Conselho Nacional de Justiça caminhou em sentido algo diverso.
O emprego de expressões abertas e conceitos jurídicos indeterminados – como, p. ex., “finalidade de autopromoção”, “intuito comercial”, “exploração direta de atividade econômica lucrativa” ou “opiniões ou aconselhamento em temas jurídicos concretos ou abstratos” – termina por nos reconduzir ao primeiro problema (= os limites da lei complementar, ut art. 93 da CRFB), de muitos modos concretos.
É certo que a minuta original era ainda mais restritiva.
Com efeito, pelo art. 3º, II, “e”, da primeira versão do normativo, o juiz não poderia sequer responder pessoalmente a um ataque que lhe fosse dirigido em uma rede social, ainda que respeitosamente; isto porque deveria “evitar embates ou discussões, inclusive com a imprensa, não devendo responder pessoalmente a eventuais ataques recebidos”.
Estava condenado ao silêncio, muitas vezes interpretado como assentimento. Essa alínea, felizmente, foi suprimida. Mas há outras, igualmente preocupantes.
Nos termos do art. 3º, II, “e”, o juiz não poderá “expressar opinião” sobre “temas jurídicos abstratos” que sejam de sua competência jurisdicional (art. 3º, II, “g”), o que nos leva a uma quase aporia: se for professor ou doutrinador, um juiz do Trabalho poderá dizer o que pensa, em abstrato, da constitucionalidade de determinados dispositivos da Lei da Reforma Trabalhista, nos livros que publicar; mas não poderá dizê-lo nas redes sociais em que estiver, porque sua página no Facebook não é um livro eletrônico e o seu perfil é pessoal (ou seja, não serve para divulgar o seu “magistério”).
Ademais, pelo teor da norma, apenas poderão expressar suas opiniões técnicas em redes sociais aqueles que, ao fazê-lo, exercitarem “magistério”… O que isto significa? Ora, magistério é expressão cotidiana que consubstancia a função de ensinar; etimologicamente, porém, deriva do latim “magisterium”, que significa “dignidade” (entre outros sentidos) e contém o mesmo radical da expressão “magistrado”.
Um magistrado que não detenha cargo formal de professor em instituição de ensino superior não poderá exprimir suas opiniões técnicas, sobre temas abstratos, em uma postagem no Facebook ou no Instagram? Por que haveria de ser assim discriminado? Ao cabo e fim, poda-se a liberdade de cátedra dos juízes, mesmo se professores, em qualquer rede social (sem se saber ao certo de que “redes” estamos falando, como visto).
O juiz também deve evitar “expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade e à idoneidade do magistrado ou que possam afetar a confiança do público no Poder Judiciário”.
A redação original era ainda mais restritiva: deveria evitar “interações pessoais que possam suscitar dúvidas em relação à sua imparcialidade” (art. 3º, II, “i”, da primeira minuta, felizmente excluído do texto final).
Tal balizamento abre um horizonte imenso de possibilidades disciplinares (e insinua um caminho inédito de arguições de suspeições processuais): o que dizer, p. ex., do juiz que, em sua rede social, “curtir” as postagens de um advogado, mais do que as de outro? Tem-se aí uma “interação social” proibida? Poderá o “ex adverso”, em uma ação judicial concreta, valer-se do art. 3º, II, “a”, da Resolução CNJ n. 305 para arguir a suspeição do juiz?
Esses e outros aspectos revelam como, a rigor, talvez o melhor entendimento fosse mesmo aquele expressado pelo conselheiro Luciano Frota, no único voto divergente emitido durante a sessão:
“O eminente Relator propõe ao Plenário deste Conselho a aprovação de ato resolutivo que estabelece parâmetros de conduta para uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário.
“Com a devida vênia, vislumbro na proposta apresentada algumas incongruências técnicas que merecem a atenção deste Plenário, notadamente quanto ao artigo 3º, pois podem ensejar aplicações distorcidas ou indesejadas.
“A que se propõe o artigo 3º, recomendar ou impor condutas?
“À primeira vista, o dispositivo poderia indicar mera recomendação de conduta, sem força obrigacional. No entanto, leitura mais atenta conduz inevitavelmente a entendimento diverso.
“Vejamos.
“Os artigos 1º e 2º do normativo proposto assim dispõem:
‘Art. 1º Estabelecer os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, de modo a compatibilizar o exercício da liberdade de expressão com os deveres inerentes ao cargo.
‘Art. 2º O uso das redes sociais pelos magistrados deve observar os preceitos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, do Código de Ética da Magistratura Nacional, os valores estabelecidos nos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial e o disposto nesta Resolução.’ (grifo nosso)
“Como se vê, as disposições gerais do normativo já estabelecem o caráter obrigacional do disposto na Resolução, que não se coaduna com uma suposta natureza orientativa sugerida, prima facie, para as condutas descritas no artigo 3º.
“Aliás, a redação do caput do artigo 3º é, por si, contraditória em relação à natureza da norma. Vejamos:
‘Art. 3º A atuação dos magistrados nas redes sociais deve observar as seguintes recomendações: (…)’
“A expressão “deve observar” é ordenatória, logo, exclui a possibilidade de se conferir ao dispositivo a natureza de Recomendação.
“Recomendar é apenas sugerir, aconselhar, orientar. Mas quando o teor da norma ganha contornos de obrigatoriedade, transmuda-se sua natureza, deixando de ser meramente orientativa para ser compulsória.
“Uma vez aprovado, os magistrados brasileiros passarão a ser compelidos a adotar, a observar, a atentar, a abster-se e a evitar as condutas descritas nos diversos incisos e alíneas contidos no art. 3º do ato normativo proposto.
“Na melhor das hipóteses, estar-se-á diante de um texto com redação dúbia, capaz de gerar controvérsias interpretativas na sua aplicação, mormente se considerada a natureza jurídica de uma Resolução.
“É, portanto, risco que se corre sempre que a técnica redacional utilizada não permite clareza e precisão quanto aos objetivos colimados.
“Mas se a ideia do artigo 3º é tão somente recomendar aos magistrados as condutas nele apontadas, a questão se torna ainda mais grave, pois se estará diante de inadequação técnica, não apenas redacional, que compromete a aprovação do ato normativo.
“Quando o escopo do ato é apenas orientar os tribunais ou os membros do Poder Judiciário quanto a procedimentos ou condutas, a espécie normativa própria é a Recomendação, para a qual o Regimento Interno deste Conselho não confere efeito vinculante.
“A meu juízo, e com a devida vênia, não se revela tecnicamente adequado, à luz do próprio Regimento Interno, que normas pretensamente orientativas, logo, sem natureza compulsória, integrem o texto de uma Resolução, pois findam por assumir o caráter cogente peculiar à espécie normativa escolhida.
“Se o objetivo do art. 3º da proposta de Resolução não é obrigar os seus destinatários, mas apenas orientá-los em suas condutas no uso das redes sociais, o conteúdo apresentado deveria constar de Recomendação, como, aliás, aponta o Regimento Interno do CNJ.
“Toda espécie normativa está submetida a uma técnica de elaboração, que lhe confere estrutura redacional própria, capaz de permitir compreensão e repercussão jurídicas adequadas.
“Claro que mesmo os atos normativos que não observam a melhor técnica podem produzir efeitos no mundo jurídico, desde que cumprido o procedimento próprio para sua aprovação. Mas isso não é o recomendável e nem o desejável, pois pode trazer consequências deletérias para sua aplicação, comprometendo o escopo almejado, como demonstrado no caso presente.
“Por esses fundamentos, considerando os aspectos formais apontados, proponho a não aprovação da proposta de Resolução.”
E, mais abaixo:
“Na lição de J. J. Gomes Canotilho, ‘os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático’, o que implica, dentre outros significados, em assegurar o pleno exercício das liberdades públicas, nelas inseridas as liberdades de associação, de formação de partidos e de manifestação de pensamento e de expressão.
“A liberdade de manifestação de pensamento e de expressão, constitucionalmente tutelada nos incisos IV, V e IX do art. 5º da Constituição da República, possibilita a toda pessoa revelar publicamente a sua opinião, as suas convicções ou seu entendimento sobre qualquer fato da vida social ou política.
“Como bem pontuou a eminente ministra Carmem Lúcia, em seu voto paradigmático na ADI 4815: ‘quem, por direito, não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito’.
“E foi nessa trilha de garantia dos direitos fundamentais, que a Convenção Americana de Direitos Humanos dispôs sobre a liberdade de expressão em seu art. 13, verbis:
‘Art. 13. (…) 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha’.
“Em abril de 2000, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, aprovou uma Declaração de Princípios sobre Liberdade Expressão, estabelecendo, já em seu primeiro enunciado, que a ‘liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito fundamental e inalienável, inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a própria existência de uma sociedade democrática’.
“Evidentemente que a liberdade de expressão não se trata de direito absoluto, a ser exercitado sem qualquer limite. Como bem pontua Bernardo Gonçalves Fernandes, e que, nesse particular, espelha a corrente majoritária, ‘a liberdade de expressão é limitada por outros direitos e garantias fundamentais como a vida, a igualdade, a integridade física, a liberdade de locomoção’, assim como ‘não pode ser usada para manifestações que venham a desenvolver atividades ou práticas ilícitas (antissemitismo, apologia ao crime etc.)’.
“Portanto, a relativização do direito à liberdade de pensamento e de expressão somente pode ocorrer nas situações excepcionais, nas quais estão em jogo outros direitos fundamentais. E, contrariamente ao que preconiza o preâmbulo da proposta de Resolução, não será o exercício do direito inalienável do magistrado de expressar publicamente uma opinião que tornará o Poder Judiciário menos independente, menos imparcial e menos íntegro.
“A Constituição Federal, ao dispor sobre a liberdade de pensamento e de expressão, afastou a possibilidade de censura de qualquer natureza, que, ainda na lição de Bernardo Gonçalves Fernandes, tem o conceito jurídico ‘de ação governamental de caráter prévio e vinculante sobre o conteúdo de uma determinada mensagem’.
“Importa dizer: a edição de ato normativo que limita a livre manifestação do pensamento, definindo, a priori, as condutas que representam a suposta extrapolação desse direito, configura censura prévia, que não tem guarida constitucional, a teor dos incisos IV e IX do art. 5º e § 2º do art. 220, ambos da Constituição Federal.
“A propósito, o artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos vedou também qualquer forma de censura prévia que seja capaz de inviabilizar a livre manifestação do pensamento, sem prejuízo de obrigações ulteriores que possam ser geradas.
“Vejamos:
‘Art. 13. (…) 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:
a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.”
“Em idêntico sentido está a Declaração de Princípios sobre Liberdade Expressão, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que dispôs:
‘5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou informação através de qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei. As restrições à livre circulação de ideias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de informação e a criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de expressão.’
“A liberdade de expressão deve ser vista não apenas como um direito individual fundamental, mas sobretudo como um direito coletivo que favorece a sociedade e fortalece a democracia, pois permite a circulação de ideias, o debate plural e o exercício da tolerância, que são alicerces essenciais para qualquer ambiente de liberdade democrática.
“Como bem pontua a Relatoria para Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a quem cabe interpretar a Convenção e a Declaração de Princípios já citadas, ‘só há uma sociedade verdadeiramente livre se esta puder manter um debate público rigoroso sobre si mesma’.
“A normatização proposta, com a devida vênia, impõe regras de condutas aos magistrados para além dos limites constitucionais, cerceando o direito fundamental de livre manifestação e de expressão por meio de uma prévia censura.
“Há, no caso, uma flagrante inversão valorativa no que tange à preservação dos direitos fundamentais, pois prioriza-se a mitigação da liberdade de expressão, em vez de se limitar a coibir os eventuais abusos dentro de cada caso concreto.
“E os exemplos são correntes no normativo proposto, como no caso do inciso II do art. 4º, que veda ao magistrado, nas redes sociais, a crítica pública a candidatos, lideranças políticas ou partidos políticos, ou mesmo nas recomendações proibitivas do artigo 3º, como a de não expressar opiniões sobre temas jurídicos abstratos (letra “g” do art. 3º), apenas para ficar nesses dois exemplos.
“E aqui, mais uma vez, oportuno transcrever trecho do voto da ministra Carmem Lúcia no julgamento da ADI 4815:
‘(…) Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, por indenização a ser fixada segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é forma de ‘calar a boca’. Pior: calar a Constituição, amordaçar a liberdade, para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu.’
“Para além da afronta à liberdade de manifestação de pensamento e de expressão, a proposta de normativo também dispõe sobre condutas a serem observadas pelos magistrados que não estão albergadas pela lei, infringido, assim, o inciso II do art. 5º da CF, verbis:
‘II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;’
“É o caso, por exemplo, da “recomendação” contida na letra “e” do art. 3º, que determina ao magistrado “evitar embates ou discussões, inclusive com a imprensa, não devendo responder pessoalmente a eventuais ataques recebidos”, bem como o de vedação de crítica pública a personagem da cena política, mesmo não sendo candidato (inciso II do art. 4º).
“Portanto, também sob o aspecto do conteúdo material, voto no sentido da não aprovação do ato normativo proposto, e assim o faço pelas razões acima aduzidas, mais precisamente por entender que há ofensas aos direitos fundamentais dos magistrados, mormente quanto às liberdades constitucionais que são caras ao Estado Democrático de Direito, bem como, por constituir situações configuradoras de censura prévia e atentar contra o princípio da legalidade.”
Tais ideias, porém, não prevaleceram.
*****
E os juízes, afinal, podem ter perfis no Facebook?
Sim, podem. Formalmente, não há qualquer impedimento, embora se recomende “postura seletiva e criteriosa para o ingresso em redes sociais, bem como para a identificação em cada uma delas”.
Mas agora devem atentar para as tantas restrições introduzidas pela Resolução CNJ n. 305/2019 – quiçá interpretando os inúmeros conceitos abertos sempre no sentido da maior restrição possível (o que, repise-se, atenta contra dois séculos de Hermenêutica) –, para assim evitar eventuais complicações disciplinares. E, para aqueles que já possuem perfis abertos, reza o art. 10 que “[o]s juízes que já possuírem páginas ou perfis abertos nas redes sociais deverão adequá-las às exigências desta Resolução, no prazo de até seis meses contados da data de sua publicação”.
Na prática, muitos juízes deletarão seus perfis, de modo a evitar problemas futuros. Em minha singela opinião, isto significará, a médio e longo prazos, uma magistratura mais encastelada e menos disposta ao diálogo com a sociedade civil. Tudo o que o Conselho Nacional de Justiça não deveria desejar.
E quanto ao WhatsApp? Sim, porque também há “perfil” no WhatsApp.
Como o juiz irá “adequar” o seu WhatsApp aos rigores da Resolução n. 305/2019? Deletando mensagens pretéritas que por acaso atentem contra algum dos postulados recém-publicados (mesmo que isto não já tenha efeito algum em relação ao grupo no qual o comentário foi publicado, porque dali esse comentário já não pode ser sacado)?
Respondo, amigo leitor, com toda sinceridade: não sei. E é este o maior problema.
E quanto às colunas temáticas em sites jurídicos e afins? Poderão ser mantidas, após a entrada em vigor da Resolução CNJ n. 305/2019?
Afinal, colunas não são “obras científicas”: embora possam publicar estudos genuinamente científicos, as colunas servem basicamente para que o seu responsável exprima e divulgue opiniões (que, aliás, sequer coincidem necessariamente com as opiniões editoriais do Jota). Colunas de opinião “atendem” aos rigores da Resolução CNJ n. 305/2019?
Quiçá interpretando em proveito próprio, estou entendendo que sim. No meu caso, especialmente, porque “sou professor” (!), com vínculo funcional junto à Universidade de São Paulo. Tenho o beneplácito da cátedra. E se acaso não fosse? Não poderia mantê-la? Não poderia opinar publicamente? “Mistério”… desses que as normas restritivas não deveriam possuir.
Enfim, como diziam os romanos, “summum ius, summa iniuria”. O excesso de regras jurídicas, para além do que se poderá razoavelmente controlar, não equacionará os problemas atuais. Antes, será antes fonte de novas confusões e desgastes. O tempo dirá.
***
(*) GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO, juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, é professor associado II do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Livre-docente em Direito do Trabalho pela USP.