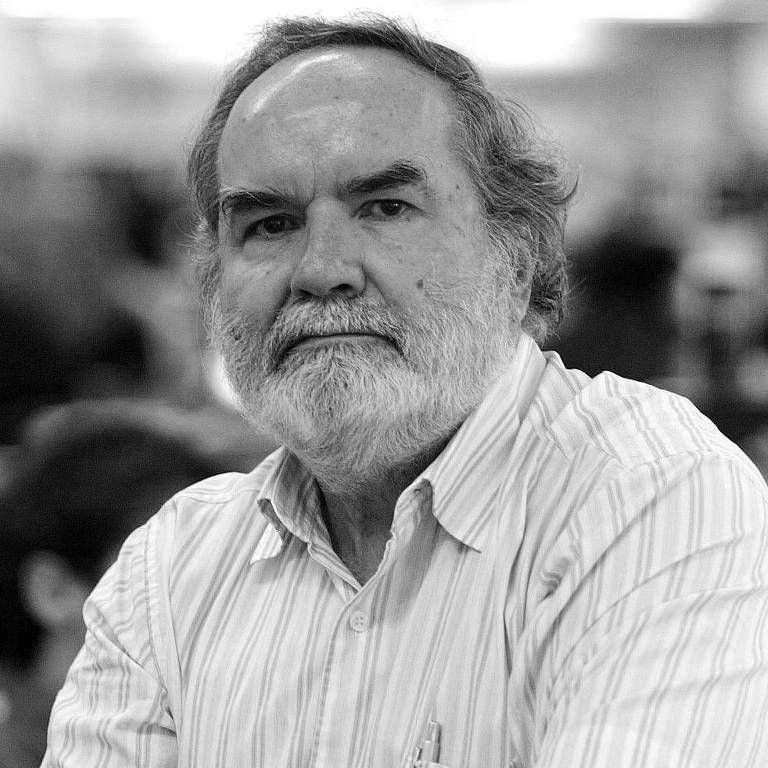‘A sociedade não conhece as tragédias intestinas no meio judicial’, diz juiz

Sob o título “Justiça e a ‘Janela de Overton’”, o artigo a seguir é de autoria do juiz federal Roberto Wanderley Nogueira, de Pernambuco.
***
A autocrítica é sempre um exercício de excelência. Formamos uma sociedade injusta e desigual que sujeita os menos favorecidos a hostilidades de múltiplos graus e espécies, nada obstante a firmeza e a consubstancialidade com que se deve exercer o direito de crítica num ambiente social que se estabelece positivamente como aberto e de Direito.
Para que se afirme o sentido de pertencimento às raízes da nação, compreende-se que há, todavia, uma caminhada enorme a trilhar no Brasil, haja vista os acontecimentos à nossa volta que sedimentam as relações sociais no país, quer na vida pública quer na vida privada. Poucos se dão conta desse gap, que precisa ser superado.
É com base numa experiência de 39 anos de judicatura que este pequeno texto disserta sobre alguns aspectos sutis que compõem a dimensão funcional do Poder Judiciário brasileiro.
Certa vez, a ministra Eliana Calmon (STJ) disparou publicamente: “Enquanto o juiz de primeiro grau não for devidamente respeitado em suas decisões e suas decisões forem sempre reformadas, muitas vezes até sem fundamento, nós teremos mais um fator de inchaço para a Justiça.” (Revista Consultor Jurídico, 14/01/2009).
Exatamente por causa desse repto, que o Judiciário tem se transformado numa espécie de máquina de produzir decisões comumente antinômicas, quando não meramente repetitivas, modorrentas, logorreicas, raramente pacificadoras, a refletir o caráter de seus prolatores.
Juízes vestiram macacões e foram ao chão de uma fábrica imaginária para manufaturar sentenças.
A atividade censória dos tribunais e do CNJ, instituído pela EC 45/2004, acabaram reduzidas à fiscalização dos resultados de um produtivismo estanque e abstrato, por cuja razão foram assimilados fundamentos “fordistas” para uma produção marcada substancialmente pela inteligência dos textos, comandos e procedimentos adotados pelos atores judiciários.
As exceções confirmam a regra e um argumento de mera abstração ou de pura autoridade conclui o ofício jurisdicional ao longo de suas etapas processuais, cujo ápice é o Supremo Tribunal Federal. A confiança pública nas instituições judiciárias, portanto, sofreu, em duas décadas, vertiginosa inversão de polaridades.
A admoestação em referência preocupa na medida em que precipita suspeitas sérias sobre o melhor funcionamento da Administração da Justiça, pilar do regime democrático e do gerenciamento republicano baseado na Ordem Jurídica, fundada pela Constituição Federal.
O problema hermenêutico integra esse processo com sutileza atitudinal, porque pode-se dizer tudo que se deseja sem alterar uma só vírgula do texto legal. A qualidade da produção técnico-jurídica cedeu à categoria quantitativa de seus resultados e o efeito clássico dessa subversão operacional é a denegação da Justiça.
De fato, nem sempre a inteligência anda a reboque da razão e não são raros os pronunciamentos teratogênicos na prática judiciária de juízes e tribunais no Brasil.
Desse modo, vale mais a corporeidade do Estado, medido pela reputação e pelo histórico biográfico de cada magistrado, que o sistema que permite tergiversar sobre os conteúdos normativos com os quais a vida social segue, aparentemente, regulada.
Há fatores subsistemáticos, estranhos à Ordem Constitucional, que podem interferir nos veredictos, máxime quando produzidos sob estímulo do produtivismo, ainda quando seus prolatores se declarem fiéis cumpridores dessa Ordem.
Tratam-se de subsistemas que afetam na prática o sistema jurídico e oprimem a cidadania de forma disfarçada, restando o simbolismo do processo. (Justiça acidental nos bastidores do Poder Judiciária, Fabris Editor, Porto Alegre, 1996).
No limite, a própria hermenêutica voluntarista escolhe teses argumentativas e figuras de linguagem que supostamente conferem alguma sustentação ao absurdo, a exemplo do argumento contramajoritário ou do ativismo judicial, que remetem a soluções ‘per saltum’ ou conforme ao próprio viés subjetivista, descolado, desse modo, dos referenciais normativos preexistentes.
Essas duas técnicas objetivam alterar a topografia da chamada “Janela de Overton”, pela qual a consciência jurídica do socius pode sofrer alguma alteração em razão de determinadas manifestações oficiais não exatamente conforme o Direito Positivo.
Exemplo desse esforço é a estranha inserção jurisprudencial do aborto de fetos e embriões anencefálicos como cláusula de exclusão de ilicitude decorrente de interpretação arbitrária da Constituição, que não prevê a hipótese de legalização dessa conduta, antes a criminaliza, mas foi assim mesmo facultada, contra-legem, mediante o advento da solução adotada na ADPF 54-DF/2012-STF.
A Suprema Corte, observa-se, ignorou a proibição objetiva e fez como os seus atuais membros chamam de uma “interpretação conforme”, dando à Constituição um sentido diverso que o constituinte consagrou, ou seja, reconhecendo como um direito da mulher a prática do aborto em tal condição como se o objeto da gestação fosse um apêndice do seu corpo e não um tercius vital, distinto dos doadores do material genético (genitores), de acordo com as leis universais da embriologia. A decisão em foco se revela igualmente como antinatural.
Os juízes, mediante uma exponencial capacidade de idealizar soluções a partir de suas próprias vontades, às vezes julgam que podem transformar o preto no branco e o branco no preto, firmes numa suposta convicção de que a “Janela de Overton” possa, finalmente, se alterar em sua topografia social. A sociedade brasileira, no entanto, é decididamente antiabortista. Não há registro estatístico que diga o contrário dessa referência.
Toma-se também como ilustração de procedimento arbitrário no âmbito do Poder Judiciário o Processo Judicial Eletrônico (PJe), imposto à nação em uma plataforma imagética (PDF), sem alternativas, visto que não pode ocorrer supostas melhorias dos sistemas que demandam interação comunicacional (Tratado de Marrakechi), quando privam de participação pessoas diversas dos perfis de quem os concebeu e os implementa no meio social público ou privado de forma obrigatória e sem nenhuma alteridade, ignorando-se solenemente o princípio do desenho universal previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão.
Com efeito, pessoas cegas não leem arquivos editados por imagem sem um recurso assistivo próprio como a audiodescrição. Disso não cogita o PJe, motivo pelo qual trata-se de uma ferramenta inconstitucional por excluir parcela da população do acesso à Justiça.
O sistema, nada obstante, continua ativado e prestigiado.
A autoridade de um magistrado consiste na força vinculante e convincente da fundamentação que encerra nos seus veredictos, nas suas atitudes funcionais, sempre à luz da Ordem Jurídica, nunca de seus próprios sentimentos, menos ainda na pompa com que se desincumbe de suas atribuições.
Em um bem lançado artigo, o jornalista J.R. Guzzo (Revista Oeste, 10/04/2010) afirmara que o Poder Judiciário é cúmplice das mazelas que conhecemos e por cuja razão não temos uma democracia no Brasil. Ele apenas repetiu Rui Barbosa em relação ao que igualmente criticava quanto ao papel da Justiça na República brasileira. Ora, Poder Judiciário aparelhado não é sequer um poder, menos ainda, Judiciário, pois não se decide coisa alguma quando se está privado da própria liberdade (Nicklas Luhmann).
Dissimular essa circunstância, ostensiva ou veladamente, não altera substancialmente a natureza desse fato hostil à República, à democracia e ao Estado de Direito.
Negar-se a si mesmo como sustentação da própria neutralidade é conduta que só pode ser plenamente executada sentindo-se e sendo efetivamente livre o juiz. Nenhum magistrado pode chamar-se como tal, se treme diante dos poderosos com receio de impopularizar-se ou prejudicar-se na própria carreira ou ainda ser vítima de algum tipo de chantagem política; ou seja também implacável diante dos pequeninos para ver-se afirmar, a si mesmo, um caráter que não tem.
É disso que se trata um magistrado na sua acepção mais apropriada de fonte de distribuição universal de Justiça, que reúna uma formação genuína e que esteja sempre determinado a realizar o Direito, conforme os seus conteúdos, nunca de acordo com o que ele próprio espera como sendo o justo.
Esse é um deslize muito comum entre aqueles atores jurídicos que, nada obstante, atuam como políticos. É desse tempero que é forjado aquilo que Mauro Cappelletti denomina como “Justiça corporativa” (Juízes irresponsáveis?), cujos enredos, procedimentos e decisões estão baseados em conveniências e idiossincrasias do próprio sistema de Justiça.
As janelas constitucionais pelas quais diversas nomeações ao Poder Judiciário são realizadas, mirando critérios exclusivamente políticos, fragiliza, todavia, o poder e a dimensão na qual teoricamente os magistrados devem estar envolvidos: a dimensão da impessoalidade, da competência técnica, da correção ética e da alteridade.
Por isso mesmo, a possibilidade de trocar os protagonistas da Administração da Justiça – máxime aqueles que para ingressarem no sistema não fazem esforço técnico algum, como os membros do “quinto constitucional” e os do Supremo Tribunal Federal – para conferir ao seu sistema, nesse contexto, correção técnica, plena funcionalidade e perfeita previsibilidade é fundamental. Para isso, mecanismos de controle eficaz devem ser erigidos e implementados.
O que temos no momento são fachadas que se prestam apenas a simbolismos estanques, no máximo para humilhar alguns “bodes de expia” que não implicam risco algum.
Todavia, o apego aos respectivos cargos nesse setor do poder público é formidável, chega a ser bizarro, e isso tem sido paradoxalmente estimulado pelo sistema político. Sobre isto, a impropriamente denominada “PEC da Bengala” (Emenda Constitucional 88/2015), que aumentou em um lustro o tempo de permanência no serviço público.
Curiosamente, os ministros dos Tribunais Superiores deveriam se submeter a uma sabatina de retenção de seus cargos perante o Senado Federal pelo prazo fixado na EC 88/2015, mas o STF, de novo, anulou o registro constitucional respectivo e nenhum deles, que já completaram a idade septuagenária, foram submetidos à tal sabatina.
Apesar disso, continuam judicando, por enquanto, até os 75 anos de idade.
Dito está que as composições do STF correspondem, pela tradição constitucional brasileira, integralmente, a designações puramente políticas, submetidos os indicados a uma como que protocolar sabatina no Senado Federal, observados alguns poucos pressupostos avaliados livremente pelo presidente da República.
Detalhe importante: ninguém chega ao STF com voto popular, mas pelo desejo livre do presidente da República de turno, havendo vaga. Para tanto, nem formado em Direito um ministro do órgão de cúpula do Judiciário brasileiro precisa ser. Basta que tenha “reputação ilibada” (o que é isso, afinal, na mente de um político da velha tradição fisiológica?), “notável saber jurídico” (avaliado exclusivamente pela autoridade que o indica) e ter entre 35 e 65 anos de idade (o único fator objetivo entre os pressupostos constitucionais para que um brasileiro nato se torne ministro do STF).
Com efeito, mudar esse sistema é preciso, mas como fazê-lo (?) sem o adminículo do Congresso Nacional submetido, de um lado, à pressão que decorre do feixe de competências ao qual os parlamentares estão invariavelmente submetidos; de outro, ao monopólio partidário e às suas lideranças quase sempre oligárquicas.
Os Estados Unidos da América são o modelo para o nosso país, mas aqui a cópia foi mal reproduzida.
Os ‘Justices’ norte-americanos costumam ser mais técnicos que políticos. Nós invertemos essa lógica, ao menos de duas décadas para cá. A razão é simples: não há a quem apelar. Teria, sim, o Senado Federal nos casos de crime de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte, mas os Senadores, que são julgados pelos ministros, jamais julgaram um só ministro do STF por isso em toda a história. Diversos Senadores têm processos tramitando no STF.
Há um numeroso quantitativo desses casos contra ministros do Supremo que não passam sequer pelo juízo admissibilidade, a cargo da Mesa do Senado. Nada acontece…
A situação é mesmo tão estranha que o STF sequer admite submeter-se ao controle externo sob encargo do CNJ, por atuar esfera administrativa e sem acepção de magistrado ou órgão jurisdicional algum.
O CNJ exerce poderes de supervisão administrativa e orçamentária sobre toda a magistratura e sobre todo o Poder Judiciário, menos os ministros do STF, em razão de orientação jurisprudencial do próprio Supremo.
Essa ressalva não é estabelecida pela Constituição, mas pela dicção dos senhores ministros. Eles se atribuíram, portanto, o predicado da intocabilidade que nenhum outro magistrado dispõe nem a Constituição Federal cogita. É assim que a “democracia” brasileira funciona. Karl Loewenstein explica, com maestria, o conceito de “constitucionalismo simbólico” no seu livro Teoria da Constituição.
De fato, não se pode duvidar de nada neste país, especialmente depois que as Igrejas foram fechadas por determinação de autoridades locais, sendo o Brasil, entretanto, um Estado laico.
Além disso, nos outros tribunais 1/5 de suas composições, chamadas de “quinto constitucional”, é também politicamente montada. Os juízes que prestam concurso, os quais são chamados pejorativamente de “juízes de piso”, vivem premidos entre a independência e as perspectivas na própria carreira. Se valorizam a carreira, abrem mão da independência; se se mantêm independentes, dão adeus à carreira.
É um drama do qual poucos se dão conta, mas reflete de algum modo na prestação jurisdicional. Dizem que o poder do juiz brasileiro não vai além de botar ladrão de galinha na cadeia.
Não é de todo desprezível a ironia.
Vimos os transtornos pessoais pelos quais o então juiz federal Sergio Moro teve de passar, apenas por ter feito a coisa certa, cumprido o seu dever com plena carga e sem amesquinhamentos, ele que é uma das maiores autoridades técnicas em ciência do combate aos crimes organizados e lavagem de dinheiro, preconizada pela legislação nacional e que guarda sutilezas funcionais que são intoleradas, quando não de todo ignoradas, por garantistas clássicos, mas que encontram no ordenamento jurídico perfeita constitucionalidade.
Sabe-se bem do que o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública padeceu, enquanto magistrado.
Estando entre os juízes há 39 anos, outras abordagens muito diferentes não se divisaram na experiência do autor destas linhas. Jamais se abdicou da própria independência funcional e essa atitude intransigente, mas perfeitamente consubstancial à ordem normativa, teve um custo, um custo tremendo.
O reflexo desse custo, em primeiro lugar, afeta à carreira, que funciona quase sempre como uma espécie de moeda de troca para arrefecer a resistência das autoridades constituídas, se estas não contarem com uma fortaleza moral incorruptível. Os subsistemas de manipulação do sistema de Justiça operam com muitos tentáculos. Não há queixas. A missão tem sido cumprida.
O ministro Sergio Moro foi para o outro lado da luta para assegurar expansão no combate que iniciou no âmbito da Operação Lava Jato, e fê-lo muitíssimo bem.
Relata-se aqui a história, apenas.
Para se entender o que é “política” nessas janelas institucionais, basta observar a realidade dos acontecimentos que estão à nossa volta, o quadro de perplexidades formado em razão de diversos veredictos judiciários em geral incompreensíveis, à luz da legislação.
Isto responde às apreensões de saber os porquês os juízes de formação genuína sentem-se tão dramaticamente desassistidos de amparo jurídico e institucional com relação aos seus direitos.
Qualquer um que disser que confia na administração da Justiça no Brasil, mente!
Inclusive e, sobretudo, os juízes, exatamente porque o Estado brasileiro não tem oferecido o necessário respaldo às atuações jurisdicionais. O sistema de Justiça é corporativo dentro do próprio corpus.
Linguagem, hermetismo, privilégios, vaidade, seduções, competitividade, emulação, prepotência são expressões da falta de intergrupalidade nos ambientes judiciais brasileiros, em regra; são manifestações do corporativismo judiciário entre nós, pelo qual até o associativismo da categoria cede aos encantos e substratos das cúpulas, pelas quais guardam um tal tipo de temor reverencial que chega a assustar.
Há juízes que carregam uma espécie de “bússola do adulódromo” para focar a direção do superior que vai lhe assistir na carreira desde cedo e a quem vai prestar as maiores atenções, a partir de então. São espécies de manobra que estão longe da impessoalidade.
Assim é que toda vez que se bate às portas da Justiça, recebe-se comumente frustração e desapontamento, no mínimo por causa de sua morosidade crônica que não encontra solução de continuidade. Quem não tem uma história de dissabor com a experiência judiciária neste país?
Lamentavelmente, a sociedade não costuma tomar conhecimento dessas tragédias intestinas que acontecem no meio judicial tupiniquim. E menos ainda que, quando dificilmente encaminhados, esses casos costumam sofrer solene esquecimento ou contorcionismo hermenêutico, os quais acabam gerando impunidade.
Por trás de tudo isso reside um argumento de estabilização do sistema e de proteção da imagem da Justiça, maior do que os propósitos de razão, que pode ser sintetizado numa palavra: corporativismo!
Não é sem motivo que a imensa maioria das reivindicações dos juízes diz respeito a vantagens remuneratórias e a condições de trabalho. Essas pautas não arriscam as carreiras individuais perante os superiores, os quais organizam as listas de promoção para a evolução em seu curso e que os lotarão, conforme as conveniências e as disponibilidades de cada ocasião.
O efeito mais recorrente desse modelo é que o magistrado intelectualmente honesto não se ocupa normalmente em expandir a própria honradez, acreditando que fazer a sua parte acaba sendo uma prática revolucionária, e suficiente.
No geral, o pano de fundo comportamental diante desses cenários é o silêncio.
Ninguém está disposto a “comprar briga” com seus superiores, ainda que esses superiores não estejam agindo inteiramente de acordo com o previsível. Ora, quem ousa falar em demasiado e gerar suscetibilidades às vezes claramente despropositais, vai acabar sofrendo revezes e hostilidades em sua carreira, pelo menos. E se um independente é rotulado como tal, logo passa a sofrer ostracismo de parte dos próprios pares, receosos de prejudicar-se também.
Tampouco se trata de desobediência ou insubmissão, mas de lutar pelo Direito (Rudolf von Ihering). É um cenário impressionante que só a experiência de longa data é capaz de realçar.
Isso tudo acontece sem que os controles internos sejam capazes de dar cobro eficaz à recorrência das mazelas. O circuito das cúpulas, que produzem política pública interna e possibilitam as movimentações funcionais (humanas, materiais e financeiras), é formidavelmente fechado e esses “clubes” costumam ser para poucos.
De fato, corregedoria local não corrige desembargador e muito menos ministro de Tribunal Superior. Afinal, devemos acreditar que essa clientela sobrepaira à lei?
Absurdo! E esse é um dos vícios do sistema constitucional que rege o Poder Judiciário e a magistratura brasileiros; ou das interpretações que sobre a Constituição são internamente produzidas, em causa própria.
O questionamento central reside no fato de que a autopoiese do sistema judicial brasileiro está fragmentada, adoecida por uma contaminação histórica em que a estrutura de vasos comunicantes, ali compreendida institucionalmente, não funciona a contento em prejuízo dos altos interesses da Nação.
O simples rearranjo da carreira, atual moeda de troca para promoções e outras vantagens funcionais, para possibilitar que ela realmente se profissionalize, muda, de pronto, o perfil do Judiciário nacional. A “moeda”, enfim, desaparece. E um novo padrão de relacionamento institucional há de ser estabelecido com vantagens para o espírito republicano.
No atual contexto social, profissionais do Direito bem sucedidos são “lobistas”, e não juristas de formação genuína, os quais vivem, em geral, muito modestamente.
Que o digam, mesmo em sua intimidade mais profunda, os políticos, os contraventores do jogo-do-bicho, os donos do capital, os juízes das cortes brasileiras e aqueles que, ainda não estando nelas, esmeram-se, parasitários, na arte de adular para chegar lá, julgando, muito possivelmente, que os tribunais são sinecuras.
O ponto de inflexão transformadora para todas essas mazelas do sistema de Justiça nacional é, induvidosamente, o Supremo Tribunal Federal de onde promanam todas as inspirações de modo a que esses cenários vicejem e se perpetuem (Dalmo Dallari, O poder dos Juízes).
A Suprema Corte pede reoxigenação de sua jurisprudência, do formato de sua composição e até mesmo de seus atuais protagonistas, e isso só pode ocorrer com novos personagens que possam empreender uma nova mentalidade mais consubstanciada nas fundações e valores da Nação, fielmente observados em face da Constituição da República.
Desse modo, insiste-se: sem mexer no STF não se governa adequadamente o país. A chamada “Janela de Overton” encontra-se alterada para tentar inverter algumas polaridades nacionais em relação aos seus próprios valores e aspirações.